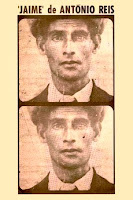Um ano depois do aparecimento de Optimist, o seu álbum de estreia, Finneas relança-o numa edição DeLuxe. Para lá de algumas novas versões das canções originais, e também de uma cover de The Fool On The Hill dos Beatles, a edição propõe-se também divulgar a acção da Earth/Percent, entidade apostada em canalizar os apoios da indústria da música a diversas organizações que trabalham no sentido de as comunidades fazerem frente às urgências climatérias. Como complemento, temos um novo registo do espantoso tema The Kids Are All Dying, agora com Finneas ao piano em gravação nos estúdios de Abbey Road.
segunda-feira, outubro 31, 2022
domingo, outubro 30, 2022
Charlotte Lawrence
— God Must Be Doing Cocaine
God Must Be Doing Cocaine, por Charlotte Lawrence — eis uma descoberta "tardia" (a produção é de 2019), mas que importa registar: pelo misto de candura e desencanto da canção, e também pelo seu espantoso teledisco, com concepção visual de Tyler Shields. Sem esquecer a capa do single.
Making the city our stage
Gives us our pleasure and cuts it with pain
God must be doing cocaine
Everyone's changin' their body and face
Don't like the way we were made
So many prayers out as He stay awake
God must be doing cocaine
Can anyone really blame Him?
He probably needs an escape
Looking down at His creation
And thinking we've thrown it away
Robots are learning and we can't keep pace
Feels like we'll all be replaced
Gets wild ideas when He stays up late
God must be doing cocaine
Can anyone really blame Him?
...
I drove my brothers to school yesterday
Who's gonna make sure they're safe?
Feels like sometimes He goes missing for days
God must be doing cocaine
Joseph Losey: espelhos e fantasmas
 |
| Dirk Bogarde e James Fox em O Criado (1963): assombramento e tragédia |
Apesar de todas as crises do mercado, o DVD continua a ser uma via possível para conhecermos a diversidade da história do cinema: agora podemos ver ou rever cinco títulos fundamentais, realizados na Europa, pelo americano Joseph Losey — este texto foi publicado no Diário de Notícias (21 outubro), com o título 'O cinema é um espelho dos nossos fantasmas'.
Podemos entregar-nos a infinitas especulações, ora pragmáticas, ora nostálgicas, sobre o facto de os mercados cinematográficos terem desinvestido na área do DVD. O certo é que, apesar disso (porventura contra isso), continuamos a ter a possibilidade de descobrir alguns clássicos em formato digital, em edições para consumo caseiro. Tem acontecido, por exemplo, com vários títulos lançados pela Academia Portuguesa de Cinema, em colaboração com a Cinemateca. E acontece agora, com chancela da Leopardo Filmes: nada mais nada menos que cinco filmes de Joseph Losey (1909-1984), reunidos numa caixa de DVD com o subtítulo “Cineasta essencial”.
Essencial, sem dúvida, Losey começa por sê-lo pela bizarra ambivalência cultural e histórica que pontua a sua trajectória criativa. Ironicamente, poderemos dizer que essa trajectória o define como uma espécie de contraponto de Alfred Hitchcock. Assim, o “mestre do suspense” surge muitas vezes citado como um dos nomes grandes da idade de ouro de Hollywood (estatuto indiscutível, claro), omitindo as suas origens inglesas e, mais do que isso, o começo da sua actividade na Grã-Bretanha, onde assinou mais de duas dezenas de filmes; Losey, por seu lado, e sobretudo graças a essa obra-prima que é O Criado (incluído nesta edição), tende a ser encarado apenas como uma referência fundamental da produção britânica, esquecendo-se que nasceu nos EUA, aí realizando, até ao começo da década de 1950, uma parte significativa da sua filmografia.
 |
| Joseph Losey |
Losey foi, afinal, nas últimas três décadas da sua vida, um cineasta exilado. As suas colaborações teatrais com Bertolt Brecht e o compositor Hanns Eisler ao longo da década de 40, e também o facto de se ter filiado no Partido Comunista dos EUA em 1946, tornaram-no um alvo do “maccartismo” e dos processos de afastamento dos “vermelhos”, nessa altura implementados por vários estúdios de Hollywood. Acabou por sair dos EUA em meados de 1951, quando o seu filme The Big Night, um “thriller” com John Drew Barrymore, estava em fase de pós-produção.
Não se poderá dizer que a sua filmografia seja um reflexo “temático” desse dramático capítulo da sua biografia. Em qualquer caso, faz sentido sublinhar que alguns dos grandes momentos do seu trabalho são indissociáveis de uma visão muito crua, e também muito desencantada, das formas de poder que as relações humanas podem envolver.
Com argumento de Harold Pinter, a partir de um romance de Robin Maugham, O Criado persiste como um exemplo maior dessa arte subtil, visceralmente trágica. E tanto mais quanto nele deparamos com uma relação em que as diferenças de classe — o criado (Dirk Bogarde) e o seu amo (James Fox) — se cruzam com enigmáticas componentes homossexuais. Digamos, para simplificar, que a abordagem que Losey faz da(s) sexualidade(s) é o rigoroso contrário da “formatação” temática, por vezes moralista, que encontramos em algumas produções politicamente correctas dos nossos dias.
Em termos cronológicos, O Criado é o terceiro dos cinco filmes desta edição (todos em cópias restauradas). Antes dele surgem Prisão Maior (1960), com Stanley Baker, retrato contundente da violência no interior de uma prisão, na altura proibido em vários países, e Eva (1962), produção franco-italiana inspirada no romance homónimo de James Hadley Chase, protagonizada por Jeanne Moreau numa reinvenção das regras clássicas do “thriller” através de uma invulgar ambiência erótica — foi uma desilusão para o realizador devido aos cortes impostos pela produção, mas surge agora disponível com a duração desejada por Losey.
Ver ou rever Losey envolve uma fascinante sensação de realismo (mesmo no muito pouco visto Dois Vultos na Paisagem, um conto abstracto sobre a violência datado de 1970). O seu impacto não é estranho a um elaborado paradoxo formal: Losey oferece-nos espelhos das componentes mais básicas e mais perturbantes da identidade humana, ao mesmo tempo que, com a perspicácia e a paciência de um pedagogo, nos dá a ver os elementos fantasmáticos das suas personagens. Os títulos finais desta edição — Acidente (1967) e Mr. Klein - Um Homem na Sombra (1976) — são notáveis exemplos da sua visão.
Acidente resultou de mais uma colaboração com Pinter, neste caso tendo como ponto de partida um romance de Nicholas Mosley centrado num pequeno grupo de personagens do meio universitário. Aqui, todos os movimentos passionais transportam uma carga de destruição (e auto-destruição) que, de alguma maneira, esclarece o cepticismo moral das narrativas de Losey: vivemos na miragem de uma inocência para sempre perdida. Sem esquecer que, como sempre, o trabalho com os actores tem tanto de delicado como de sofisticado — Dirk Bogarde e Stanley Baker regressam, contracenando com Jacqueline Sassard, Michael York e Delphine Seyrig.
Quanto a Mr. Klein, uma produção francesa, a sua história tem tanto de fresco histórico como de parábola política. A figura central do filme, Robert Klein, é um negociante de arte de Paris que, durante a ocupação pelos nazis, se aproveita da fragilidade dos judeus em fuga para adquirir obras por preços irrisórios. A partir do momento em que a sua identidade é confundida com a de um judeu também chamado Robert Klein, ele vai viver um pesadelo tornado realidade, de alguma maneira confrontando-se com a monstruosa “banalidade do mal” que Hannah Arendt escalpelizou. A não esquecer: no papel de Klein, Alain Delon mostra como a arte de representar consiste em lidar com todos os assombramentos que habitam a nossa frágil condição de seres vivos.
Nova canção de Iggy Pop
Frenzy. Não o penúltimo filme de Alfred Hitchcock, lançado em 1972, mas a nova canção de Iggy Pop, prelúdio de um álbum a ser editado pela Gold Tooth Records, do produtor e guitarrista Andrew Watt. O próprio Watt toca no novo single que conta também com as colaborações do baixista Duff McKagan (Guns N’Roses) e do baterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).
Got addicted to walls, that's more than you all
My, my, don't be sick if you I solve all the pricks
So shut up and run because fun is my body
All the sharks in the sea are waiting on me
I'm in a frenzy, you fucking prick
I'm in a frenzy, you goddamn dick
I'm in a frenzy, you stolen douchebag
And hate that I feel is, oh, so real
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy, woo
I'm sick of the squeeze, I'm sick of the tears
I'm sick of the freeze, I'm sick of disease
So give me a try before I fucking die
My mind is on fire, will I ever retire?
I'm in a frenzy, fucking prick
I'm in a frenzy, goddamn dick
I'm in a frenzy, you stolen douchebag
And this pain that I feel is, oh, so real
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy
Do you get it?
No
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm in a frenzy (frenzy)
I'm having a great time (frenzy)
I'm gonna burn (frenzy)
Frenzy, frenzy, frenzy, frenzy (frenzy)
Frenzy, frenzy, frenzy, oh (frenzy)
Frenzy, frenzy, frenzy, frenzy
I got addicted to walls
(Be careful)
sábado, outubro 29, 2022
Bruce & Ben E. King
Bruce Springsteen continua a divulgar as canções do seu novo álbum, Only the Strong Survive (11 novembro), uma colecção de clássicos da soul. Surge agora Don't Play That Song, tema lançado por Ben E. King em 1962 — nova versão (em delicioso CinemaScope) + original.
Jerry Lee Lewis (1935 - 2022)
Se é possível dizer onde e como começou o rock'n'roll, então a resposta será Jerry Lee Lewis: o cantor, pianista e compositor, celebrizado por canções como Great Balls of Fire e Breathless, faleceu no dia 28 de outubro, de causas naturais, na sua casa de Nesbit, Mississippi — contava 87 anos.
Dos tempos heróicos, na década de 50, das gravações em Memphis, Tennessee, na Sun Records, até aos concertos já depois de completar 70 anos, passando pela entrada no Rock & Roll Hall of Fame, em 1986, a história da sua carreira confunde-se com uma mitologia em que a vibração da música nunca é estranha a um atitude capaz de conciliar o entertainment com a rebeldia, por vezes envolvida em perfume de escândalo.
A sua longa discografia integra um legado de quatro dezenas de álbuns, o último dos quais, Rock & Roll Time, surgiu em 2014. Em 2022, O Festival de Cannes revelou o documentário Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind, realizado por Ethan Coen.
>>> Great Balls of Fire, num programa televisivo de 1957.
>>> Whole Lotta Shakin Going On, em The Johnny Cash Show (1969-71).
>>> She Even Woke Me Up To Say Goodbye, em The Ed Sullivan Show (16 nov. 1969).
>>> Obituário na CNN.
>>> Site oficial de Jerry Lee Lewis.
sexta-feira, outubro 28, 2022
A cinemateca de Jorge Moniz
Eis um álbum em relação ao qual somos tentados a usar um velho rótulo, sugestivo, mas simplificador: ambiências. Assim é, de facto, Cinematheque, de Jorge Moniz: uma colecção de composições de envolvente melodia e elaborada contenção, comandadas pelo piano de Jorge Moniz, também ele autor de oito dos nove temas (há um com assinatura de Paulo Freixinho e Nuno Matos).
E, no entanto, o rótulo rapidamente se esgota na caracterização do trabalho, até mesmo em termos meramente descritivos. Isto porque a "ambiência" arrasta a ideia de que a música se limita a criar um espaço/tempo para que "outras" coisas aconteçam... Ou como diz o lugar-comum: um "pano de fundo". De facto, o aqui contemplamos pode definir-se como uma inversão disso mesmo: Cinemateque é forma & fundo de uma aventura que se impõe como acontecimento total, totalmente envolvente.
Rezam as crónicas que se trata de um "desvio" de Jorge Moniz — além do mais, da bateria para o piano — em relação às paisagens jazzísticas do seu percurso criativo (ele que, importa lembrar, é um dos fundadores da Escola de Jazz do Barreiro). Talvez. Em qualquer caso, seria precipitado considerar que o depurado classicismo que aqui nos é dado ouvir se revela alheio, porventura oposto, a uma atitude criativa desprovida do gosto da deriva formal — porque, enfim, aquilo que prevalece é o risco essencial da experimentação.
O piano, o quarteto de cordas (Jorge Vinhas, Francisco Ramos, Eurico Cardoso, Emídio Coutinho), o clarinete (Ana Rita Pratas) e a voz (Inês Jacques) convocam-nos para momentos singulares a que, o título assim nos conduz, não podemos deixar de reconhecer uma sensibilidade cinematográfica, ou melhor, cinéfila. Dito de outro modo: os sons musicais apelam a imagens que existem, não como uma "ilustração", antes como uma outra narrativa que se cruza com o labor específico dos intrumentos, aceitando a sua contaminação estética — veja-se o exemplo de três videos do álbum, com realização de Fernando Silva.
Com grafismo de Chris Bigg, eis uma obra nascida na reclusão imposta pela pandemia e que, não apenas por isso, mas também por isso, apetece definir como uma cerimónia secreta, ainda que partilhável, em formato de música de câmara — e não será preciso abusarmos de simbolismos para lembrar que a palavra câmara se dá bem com o espírito do cinema.
>>> Do álbum Cinematheque: Forest Suite, Neblina e Cinematheque.
quinta-feira, outubro 27, 2022
Marvin Gaye, 1982
Midnight Love está a fazer 40 anos. Seria o derradeiro álbum de Marvin Gaye lançado antes da sua morte (a 1 de abril de 1984, contava 44 anos). Objecto exemplar de uma sensualidade R&B (ou de um erotismo funk?...) que Marvin Gaye representou como ninguém, é aqui que encontramos esse tema lendário que é Sexual Healing — memórias.
quarta-feira, outubro 26, 2022
Isabelle Adjani canta em Peter von Kant
O cartaz de Peter von Kant, de François Ozon, é uma variação sobre o cartaz de Querelle (1982), título final de Rainer Werner Fassbinder. Como é óbvio, a "coincidência" não tem nada de acidental. Acontece que o mais recente filme de Ozon [estreia dia 27] se inspira em As Lágrimas Amargas de Petra von Kant (1972) que Fassbinder realizou a partir da sua peça homónima.
As ligações emocionais e artísticas não terminam aqui. Isto porque em Peter von Kant escutamos Jeder tötet was er liebt, na voz de Isabelle Adjani (também uma das intérpretes), uma canção da banda sonora de Querelle, precisamente, com música de Peer Raben para um poema de Oscar Wilde — quem a cantava era Jeanne Moreau (Each Man Kills the Thing He Loves).
Aqui ficam as duas versões e, em baixo, o cartaz de Querelle, assinado por Andy Warhol.
À procura das canções perdidas
 |
| Música e memórias: Julieta Laso filmada por Lucrecia Martel |
Lucrecia Martel, a cineasta argentina de títulos como O Pântano ou Zama, regressa com um filme singular, envolvido com diversas tradições musicais: no seu centro está a cantora Julieta Laso — este texto foi publicado no Diário de Notícias (20 outubro).
Como definir Terminal Norte, da cineasta argentina Lucrecia Martel? Não será fácil, desde logo por uma razão métrica: trata-se de um objecto invulgar, uma média-metragem de 37 minutos, cujo lançamento reflecte o empenho com que alguns distribuidores independentes (neste caso, a Nitrato Filmes) têm tentado abrir o mercado a diferentes “formatos” e novas formas de difusão dos filmes.
Também não parece possível apresentar Terminal Norte como uma “consequência”, temática ou formal, dos filmes anteriores de Martel. Lembremos que a sua mais recente longa-metragem, Zama (2017), propõe uma metódica desmontagem do colonialismo espanhol no século XVII, e que no primeiro período da sua filmografia encontramos melodramas tão desconcertantes e sedutores como O Pântano (2001), A Rapariga Santa (2004) e A Mulher sem Cabeça (2008).
Que acontece, então, em Terminal Norte? Segundo notícias publicadas em fevereiro, por altura da passagem do filme no Festival de Berlim (cito Daniel Gorman, no site “In Review Online”), Martel acompanhou a cantora Julieta Laso a Salta, no norte da Argentina, com o objectivo de registar um dos seus concertos.
Na verdade, vivia-se um período de adiamento de muitas actividades por causa do covid e o concerto nunca se realizou. Assim, Martel optou por filmar o encontro de Laso com várias figuras de um universo musical tão rico quanto contrastado: algumas “copleras” (intérpretes das canções tradicionais, “coplas”), uma cantora trans, de seu nome Lorena Carpanchay, uma pianista, Noela Sinkunas, capaz de combinar o saber clássico com magníficas experimentações jazzísticas, etc.
São encontros sucessivos que, depois da apresentação, uma a uma, das personagens envolvidas, vão dando lugar a uma verdadeira antologia de canções perdidas (e reencontradas) no espaço da memória. Dir-se-ia um inclassificável programa de “variedades”, tanto mais insólito e envolvente quanto acontece numa rede de lugares que nunca se estabiliza: há um movimento de automóvel que percorre os vários cenários, performances em plena floresta, fogueiras que apelam a uma certa cumplicidade musical…
O resultado de tudo isto é a invenção de um espaço/tempo que só existe no cinema — e enquanto cinema. É certo que o filme não pode (nem quer) esconder o misto de arbitrariedade e improviso em que foi gerado, por vezes transmitindo a sensação de uma narrativa frágil, à deriva. Mas é também isso que lhe confere o encanto de um bloco-notas musical, uma pequena aventura vivida num ambiente de grande cumplicidade artística e afectiva.
Na trajectória de Martel, Terminal Norte será, talvez, um simples momento de passagem, em qualquer caso revelando um gosto visceral pela procura de uma realidade que importa documentar para lá de qualquer cliché pitoresco ou turístico. Entretanto, sabemos que ela trabalha já há algum tempo num documentário sobre Javier Chocobar, activista indígena que tentou que a sua comunidade não fosse afastada do seu território ancestral, tendo sido assassinado em 2009.
Pela liberdade da Ucrânia
Os ucranianos da Kalush Orchestra, vencedores do último Festival da Eurovisão, reuniram-se com The Rasmus (que representaram a Finlândia). O resultado, In the Shadows of Ukraine, é um cântico enérgico pela liberdade da Ucrânia, tendo como inspiração a canção In the Shadows, gravada por The Rasmus em 2003.
A fábula da luz
 |
| Luís Miguel Cintra em Objectos de Luz: o cinema e o seu duplo |
O filme Objectos de Luz revisita memórias do cinema português, ao mesmo tempo celebrando a vocação utópica de todo o cinema — este texto foi publicado no Diário de Notícias (16 outubro).
Subitamente, descobrimos no cinema português uma obra singular, apostada em celebrar a matéria de que se faz um filme. Matéria? Ou será essa “coisa” imaterial que nos faz ver e desejar ver mais? O título tem tanto de literal como de simbólico: Objectos de Luz. Apresentado no encerramento da 20ª edição do Doclisboa (com estreia comercial a 20 de outubro), esta realização de Acácio de Almeida e Marie Carré consegue o pequeno grande milagre de nos devolver a primordial ingenuidade do acto cinematográfico.
Bem sei que a palavra “ingenuidade” é, ou foi tornada, equívoca. Nestes tempos de saturação de informação, quem não ceda à avalanche de links, partilhas e polegares ao alto corre o risco de ser rotulado, pejorativamente, como “ingénuo”. Tudo isso potenciado pelas mais inócuas festividades virtuais, muitas vezes disfarçadas de libertação juvenil. A saber: confunde-se informação com conhecimento — como se a saturação informativa gerasse uma automática, inquestionável e universal pureza cognitiva.
Objectos de Luz quer conhecer a raiz do próprio acto cinematográfico. Trata-se, aliás, de começar “antes” do cinema, num registo cúmplice do infinito cósmico. Contemplamos o facto de vivermos e dependermos da luz, de sermos parte integrante dela. E reconhecemos a ingenuidade de tudo isso. Que é, então, a ingenuidade? A crença numa transcendência da luz capaz de devolver uma réstia de sagrado ao coração plebeu da humanidade.
Assim o diz, em off, a personagem que, no genérico final, surge identificada como “Homem da Luz”. A sua voz (do próprio Acácio de Almeida) dirige-se à luz: “Sentimos que somos parte integrante de ti, não sabemos formular, não sabemos questionar porque não temos informação ou formação suficiente para entender tudo isto.” Daí também a pergunta que a voz connosco partilha: “No fundo, o que somos nós em relação à luz? Qual é o elo que nos liga a ela?”
Objectos de Luz vai pontuando a sua narrativa — ou, se quisermos, a sua invocação da luz — com imagens de vários filmes com direcção fotográfica de Acácio de Almeida. Aí encontramos a referência tutelar de António Reis, a começar pelo emblemático Jaime (1974), por certo um dos filmes mais radicais e, se a ingenuidade me é permitida, mais selvagens que o cinema português já gerou — por lá passam também momentos de Trás-os-Montes (1976) e Ana (1982), de António Reis e Margarida Cordeiro. Ou ainda, entre outros, de O Cerco (1970), de António da Cunha Telles, Brandos Costumes (1975), de Alberto Seixas Santos, e Agosto (1988), de Jorge Silva Melo, incluindo, neste último, um luminoso grande plano da actriz principal — Marie Carré, precisamente.
Confesso que, ao ver Objectos de Luz, não pude deixar de pensar na falha cultural que nele se espelha. Não uma limitação do filme, entenda-se, mas um reflexo material e simbólico — sem dúvida dolorosamente político — da nossa cultura cinematográfica: como é que os espectadores mais jovens poderão reconhecer os filmes a que pertencem as imagens evocadas? Em boa verdade, creio que a maior parte deles não saberá identificar esses filmes porque o nosso património cinematográfico continua a ser uma presença fraca nos domínios da educação, seja ela escolar, em sentido literal, seja mediática. Nesta perspectiva, através da sua narrativa em forma de fábula da luz, este é também um filme sobre a memória, a sua riqueza, complexidade e urgência.
Porventura contradizendo o parágrafo anterior, importa sublinhar que não se procura, aqui, um banal efeito de “reconhecimento”. Não estamos perante um mero inventário de cenas soltas, à maneira do YouTube: mesmo não conhecendo os filmes de onde provêm as imagens, é possível seguir Objectos de Luz como uma aventura vivida por amor do cinema. O que mais conta é o facto de as imagens revisitadas, muito para lá de qualquer lógica “biográfica”, não existirem como meras referências museológicas — são estilhaços de um passado feito presente, projectado no futuro de novos espectadores.
A certa altura, essa ambivalência de qualquer medida do tempo, surge “materializada” através de dois espantosos encontros, cruzando o concreto e o abstracto como só o cinema pode fazer. Penso no confronto de Isabel Ruth, agora, com a Isabel Ruth filmada por Paulo Rocha. Penso no exercício de Luís Miguel Cintra contemplando (ou sendo contemplado por) a sua própria imagem no final de Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço (1970), de João César Monteiro. Milagre de luz, sem dúvida: o cinema é essa arte de refazer todas as medidas do tempo, para nós criando novas paisagens de ingénua e engenhosa filosofia em que podemos, talvez, não desistir da utopia.
terça-feira, outubro 25, 2022
A IMAGEM: Alessandra Sanguinetti, 2002
 |
| ALESSANDRA SANGUINETTI / Magnum The Explorer Buenos Aires, Argentina, 2002 |
Carly Rae Jepsen & Rufus Wainwright
A canadiana Carly Rae Jepsen acaba de lançar The Loneliest Time, opus 6 da sua discografia, ainda e sempre fiel a padrões nostálgicos da canção pop e também a uma exuberância visual que se quer próxima da sensualidade de uma fábula — exemplo modelar é a canção-título, na companhia de Rufus Wainwright, ambos em pose romântica temperada de ironia.
segunda-feira, outubro 24, 2022
Uma memória de Auschwitz
Tendo como ponto de partida a história verídica de um homem que esteve preso em Auschwitz, O Sobrevivente é um projecto de boas intenções, drasticamente limitado pelo esquematismo das suas soluções dramáticas — este texto foi publicado no Diário de Notícias (13 outubro), com o título 'Da tragédia histórica ao simplismo dramático'.
A história da personagem central de O Sobrevivente cruza, de forma inusitada e perturbante, o drama pessoal e a tragédia colectiva. O judeu polaco Harry Haft (1925-2007) foi, de facto, um sobrevivente dos horrores do campo de concentração de Auschwitz, sendo o filme baseado na biografia escrita pelo filho (editada pela Syracuse University Press, em 2006).
Com assinatura do veterano Barry Levinson — celebrizado por títulos como Bom Dia, Vietname (1987) ou Rain Man - Encontro de Irmãos (1988) — o filme organiza-se através de um vai-vém de memórias entre o começo da década de 1960, as convulsões da guerra e a segunda metade dos anos 40, quando Haft, em Nova Iorque, começa uma carreira de pugilista que o leva a desafiar o campeão Rocky Marciano.
Para Haft, a experiência do boxe tinha começado em Auschwitz, quando um oficial nazi, depois de observar o seu envolvimento numa rixa com um soldado, viu nele um potencial “homem de espectáculo”. Na prática, esse oficial passou a organizar combates de Haft com outros prisioneiros, com um desenlace único: o derrotado seria, de imediato, abatido. Vencendo várias dezenas de combates, Haft sobreviveu, consigo transportando um duplo assombramento: por um lado, tornou-se conhecido no mundo americano do boxe com o rótulo de "sobrevivente de Auschwitz"; por outro lado, a sua odisseia pessoal marcou-o por um misto de culpa e desejo de redenção que, de alguma maneira, marcou todos os que partilharam a sua intimidade.
 |
| [Syracuse U.P.] |
Os problemas maiores de O Sobrevivente decorrem da sua dramaturgia, nomeadamente no contraponto que se vai estabelecendo entre a conjuntura de guerra e os tempos vividos nos EUA — os efeitos de montagem que o filme explora através das cenas de Auschwitz (em imagens a preto e branco) são mesmo algo gratuitos e, no plano emocional, francamente simplistas. Ainda assim, os trunfos maiores estão do lado dos intérpretes secundários, sobretudo Billy Magnussen (o oficial nazi) e Vicky Krieps (a mulher com quem Haft se casa nos EUA).
Para lá das suas características específicas, é forçoso assinalar O Sobrevivente como mais uma bizarra “originalidade” do mercado português, até porque, na maior parte dos países, tem circulado pela plataforma HBO Max — estamos mesmo perante uma produção de raiz televisiva, como tal recentemente nomeada para o Emmy de melhor telefilme. Não será “melhor” nem “pior” por causa disso, mas não deixa de ser desconcertante que, ao mesmo tempo, entre nós, haja cada vez mais títulos importantes da produção americana que ninguém arrisca colocar nas salas.
F*****g Up What Matters, Tegan and Sara
As gémeas canadianas estão de volta com o seu 10º álbum de estúdio: aí está Crybaby, de Tegan and Sara. Eis F*****g Up What Matters, um esclarecedor cartão de visita de um universo pop que mais não quer para lá da preservação das memórias da tradição. E que vier atrás... que deixe a porta aberta...
domingo, outubro 23, 2022
As mulheres da Netflix
Nunca percebi porquê, mas cada vez que alguém chama a atenção para o défice informativo de algumas plataformas de streaming (sobre os filmes que difundem) há sempre vozes preconceituosas capazes de um protesto pueril: ... queriam, então, que as plataformas fossem institutos de produção de textos críticos?
De facto, a pergunta, de tão absurda, desmonta-se a si própria. Seja como for, o preconceito mantém-se e os desastres informativos também. Hoje mesmo, encontro na Netflix uma daquelas zonas temáticas (?) em que, além do triunfo da banalidade da escrita, se promove a mais absoluta arbitrariedade (des)informativa...
... que acontece, então? Numa proposta intitulada "Mulheres atrás das câmaras" encontramos Uma Vida Inacabada (2005), de Lasse Hallström, e A Raiz do Medo (1996), de Gregory Hoblit. Não creio que tal seja razão para Hallström e Hoblit se sentirem ofendidos — não se trata de lançar mais uma falasa polémica sobre "géneros" e "identidades". Resta apenas saber se na Netflix alguém já pensou o que implica escolher um filme, difundi-lo e, já agora, promovê-lo.
Taylor Swift no país dos anti-heróis
Há que reconhecer que Taylor Swift não desiste de criar canções que, através de mecanismos de transparência ou farsa (porventura transparência e farsa), configurem um confessionalismo raro na cultura "juvenil" destes tempos. Anti-hero, do seu novo álbum Midnights, aí está, precisamente, como essa miscelânea de exposição pessoal e artifício espectacular que define a mais nobre tradição pop (cf. Madonna). O respectivo teledisco, dirigido pela própria Taylor Swift, é um pequeno prodígio de encenação, transfigurando a canção em drama, o drama em comédia e, por fim, a comédia em desconcertante parábola — em resumo: uma deliciosa festa narrativa para anti-heróis como nós.
sexta-feira, outubro 21, 2022
Marilyn Monroe nunca existiu
 |
| Ana de Armas no papel de Marilyn Monroe, aliás, Norma Jeane |
Entre memória e esquecimento, o filme Blonde é um espelho fascinante da morte adiada do próprio cinema — este texto foi publicado no Diário de Notícias (9 outubro).
Não sabemos o que Jean-Luc Godard poderia ter pensado sobre o filme Blonde, de Andrew Dominik, baseado no romance homónimo de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe, disponível na Netflix. Convenhamos que o seu militante cepticismo em relação ao consumo caseiro de cinema o levaria, no mínimo, a manifestar alguma (também militante) indiferença. Ou então a reconhecer a contradição que ele próprio foi alimentando, trabalhando regularmente, desde os anos de ressaca de Maio de 68, em produções televisivas — sem esquecer que, agora, o “streaming” tem sido uma via privilegiada para descobrirmos ou revermos os filmes de Godard.
A esse propósito, lembremos apenas que a Netflix, entidade que produziu e difunde Blonde, apresenta no seu catálogo algumas preciosidades da filmografia “godardiana”. Entre elas está o raríssimo Détéctive (1985), com Johnny Hallyday, disponível com o título Mafia em Paris, devidamente (des)acompanhado pela banalidade informativa daquela plataforma de “streaming”.
Godard faleceu no dia 13 de setembro. Blonde chegou à Netflix quinze dias mais tarde. Essa “proximidade” é irrelevante, mas suscita algumas ideias que vale a pena evocar. Assim, algures na década de 1980, quando os mecanismos tradicionais de difusão do cinema sofreram renovados abalados comerciais (desde logo, através do novo papel das televisões), Godard foi questionado sobre o modo como encarava o facto de os seus filmes poderem ser vistos numa sala escura ou num ecrã caseiro. O autor de História(s) do Cinema (1989-1999) retorquiu com uma distinção que, do ponto de vista social e simbólico, não se alterou: dizia ele que, apesar de tudo, numa sala havia espectadores concretos que tinham tomado uma decisão no sentido de verem determinado filme; na televisão, pelo contrário, “não sei para onde os filmes vão”.
Objecto singular e fascinante, Blonde participa dessa estranheza que faz com que os filmes se percam, ou possam perder, na actual “generalização” que rege a sua difusão (realmente planetária). É verdade que Blonde é um dos sucessos do momento na Netflix, continuando a ocupar o respectivo Top 10 (em terceiro lugar, depois de se ter estreado na liderança). Mas não é menos verdade que isso está longe de lhe garantir a condição de fenómeno social que “todos” andamos a comentar ou discutir, e não apenas a trocar milhões de mensagens digitais a dizer que é “bom” ou “mau”… Como se se confirmasse outra máxima de Godard, expressa em 1987 (numa entrevista à televisão!): “A televisão fabrica esquecimento, o cinema sempre fabricou memórias.”
Fiel à escrita de Joyce Carol Oates, Andrew Dominik apresenta Marilyn como uma personagem convocada pela morte. O romance começa mesmo com a visita da Morte (a maiúscula é da escritora) à solitária Marilyn: “Assim chegou a Morte avançando ao longo do Boulevard em agonizante luz sépia.” O seu processo de aniquilamento passou, afinal, pelo nome falso de “Marilyn Monroe”, quer dizer, pela perda irreparável do nome original, Norma Jeane.
Várias vezes ao longo de Blonde, vemos e ouvimos a protagonista protestar em nome do recalcamento da sua identidade: Marilyn não está “aqui”… mas Norma Jeane vive marcada pela exigência de trazer para o ecrã essa Marilyn que, para ela, não existe. A certa altura, Joyce Carol Oates coloca na sua boca o carácter insustentável de tal contradição: “Porque nós não somos aquilo que nos dizem que somos, se não o disserem. Ou somos?”
O filme vive também dessa tensão irresolúvel entre uma história que avança de modo trágico, mesmo (ou sobretudo) quando nela se convoca um passado que já não pode ser resgatado, e um presente que nenhuma racionalidade parece capaz de organizar. Assim, Blonde envolve o confessionalismo de Norma/Marilyn, ao mesmo tempo que o seu despojamento e vulnerabilidade são sempre superados por um “outro” narrador que, no limite, só pode ser a própria Morte.
Há algo de raro, precioso e profundamente comovente no facto de uma actriz como Ana de Armas, dispensada de satisfazer um banal jogo mimético com a iconografia de Marilyn (que, obviamente, o filme evoca), ser capaz de se expor nessa condição de personagem que existe contra a desagregação a que o seu nome e a sua mitologia a condenam. Joyce Carol Oates anuncia isso mesmo numa das citações com que abre o romance. É de Michael Goldman e pertence a um livro publicado em 1975 (The Actor’s Freedom, ed. The Viking Pressa, Nova Iorque): “A área de representação é um espaço sagrado… onde o actor não pode morrer.”
Estranhos tempos estes em que milhões vêem filmes em casa e quase ninguém fala deles. Como se a possibilidade de refazermos, relançarmos e, num certo sentido, reinventarmos as nossas memórias estivesse a ser vencida, com o nosso beneplácito de espectadores, pelo conformismo televisivo do esquecimento. Perante o nosso torpor, Marilyn Monroe resiste no interior dessa morte impossível de morrer, fazendo de Blonde um também raro e cristalino filme de terror.
quinta-feira, outubro 20, 2022
AXN Movies — movies?
 |
| Alfred Hitchcock [1899-1980] |
* Na televisão, há coisas que, decididamente, não se entendem — e que, em última instância, vão minando a imagem pública de quem nessas coisas trabalha.
* Assim, por exemplo, o site do AXN, incluindo o AXN Movies, continua a ser um caso dramático de confusão gráfica, banalidade (des)informativa e até qualidade de escrita descuidada, por vezes francamente medíocre.
* Por estes dias, consultamos o AXN Movies e ficamos a saber que vai haver uma 'Semana do Medo' (24/31 de outubro) para celebrar o Halloween. Nem se trata, entenda-se, de voltar a discutir este mercantilismo há vários anos instalado na sociedade portuguesa (muito para lá do cinema) que se esforça por nos convencer que o Halloween é uma tradição lusitana que nos acompanha desde os tempos de D. Afonso Henriques. Acontece que o primeiro filme da referida semana é Psycho/Psico (1960), de Alfred Hitchcock, um daqueles clássicos que faz parte da memória popular. Ou seja: um filme sobre o qual a maior parte dos espectadores sabe alguma coisa porque, precisamente, o seu conhecimento é natural no interior, não apenas da memória cinéfila, mas do mais corrente consumo cinematográfico.
* Um filme não é a sua sinopse, mas se quisermos ser hiper-esquemáticos, diremos que, em Psico, começamos por conhecer a personagem de Marion Crane (Janet Leigh) que foge depois de ter roubado 40.000 dólares do cofre do patrão, refugiando-se no motel de Norman Bates (Anthony Perkins), personagem de inquietante perfil psicológico...
* Digamos que informar o leitor de tais dados, apesar de tudo, objectivos, não será o mesmo que esta prosa que encontramos no site do AXN Movies:
Psico apresenta-nos Marion, uma secretária em fuga devido a um passado tormentoso, que se refugia num pequeno hotel gerido por Norman Bates, um jovem tímido.
* Além do mais, acontece que Psico se intitula... Psico. E não, como se escreve no AXN Movies, Psico II. A dimensão ibérica do negócio talvez não justifique que se diga que o título (para mais, referido como original), é Psicosis II. Ou será que até mesmo os elementos mais objectivos da história estão a ser reconvertidos em forma de disparate e Hitchcock, afinal, foi um nome grande da cinematografia espanhola?
* Hipótese alternativa: será que estamos perante um filme inédito? É que o Psico, de Hitchcock, dura 1h 49m, mas o filme que o AXN Movies anuncia tem 2 horas.
* Provavelmente, o AXN Movies tem ainda mais surpresas por revelar, já que um outro filme do ciclo, Sei o que Fizeste no Verão Passado (1997), está identificado como sendo do realizador: Name not found...
* A informação de uma qualquer programação — neste caso de cinema, mas podia ser de qualquer outra área artística — não tem que ser uma tese universitária sobre os objectos apresentados e, escusado será sublinhá-lo, não está obrigada a ser um exercício, "bom" ou "mau", de crítica de cinema. Acontece apenas que esta desvalorização do produto (para utilizarmos a palavra com que alguns profissionais do marketing tentam bloquear o velho e respeitável termo de filme) reflecte uma indiferença cujo vazio informativo é, no mínimo, chocante.
* Resta saber se se quer estabelecer alguma relação, inteligente e bem informada, com o espectador/consumidor. Ou se nada se faz a não ser acumular produto.
* Sem esquecer que o AXN Movies ostenta uma marca de indiscutível prestígio artístico e industrial — A Sony Network — que custa ver banalizada através de tanta grosseria.
Blonde
— um filme é um filme é um filme
 |
| Ana de Armas, Blonde |
Como se Marilyn Monroe estivesse condenada a intermináveis mortes simbólicas...
No jornalismo de vários países, cá dentro e lá fora, o filme Blonde, de Andrew Dominik, tem suscitado a proliferação de uma contabilidade pueril: assim, através de inúmeros artigos de "informação", ficamos a saber esse saber de coisa nenhuma segundo o qual foram “muitos” (ou foram “poucos”) os que “elogiaram” (ou “denegriram”) este retrato de Norma Jeane...
Porque será que as produções Marvel não suscitam o mesmo tipo de contabilidade?
Esperando apenas que o leitor continue a gostar de pensar pela sua cabeça (comportamento ameaçado nos tempos que correm), vale a pena lembrar o mais simples, porventura também o mais essencial: estamos perante um objecto de cinema realmente desafiante.
quarta-feira, outubro 19, 2022
Rembrandt, aqui e agora
Autorretrato com Boina e Duas Correntes (c. 1640) é um dos tesouros do Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid) que esteve recentemente exposto em Lisboa, no Museu Calouste Gulbenkian (29 abril/12 setembro). Para lá da excelência do objecto, assim se inaugurou um programa intitulado 'Obra Visitante'.
A designação envolve um movimento dialéctico: por um lado, trata-se de dar a ver obras emblemáticas de "museus de todo o mundo"; por outro lado, a exposição dessas obras está longe de ser meramente "decorativa", já que se procura estabelecer um "diálogo" com outras obras que integram a Coleção Gulbenkian — neste caso, as duas pinturas de Rembrandt compradas por Calouste Gulbenkian: Figura de Ancião e Palas Atena.
 |
| Figura de Ancião (1645) |
 |
| Palas Atena (c. 1657) |
Memória essencial desta "visita" é o catálogo editado pela Gulbenkian, com um ensaio assinado por Luísa Sampaio — aí encontramos uma memória histórica do pintor e do seu trabalho e, muito em particular, uma fascinante reflexão sobre a abundância de autorretratos pintados por Rembrandt.
Como é que esse património nos toca, aqui e agora? Cito algumas palavras do referido ensaio: "Parece consensual que o artista, tal como os seus contemporâneos amantes de pintura, terá tido plena consciência do seu papel na história da arte, colocando-se a par dos grandes mestres do Renascimento, o que explica a motivação adicional de fazer chegar ao mercado, por um lado, a sua pintura e, em simultâneo, a imagem do seu autor."
Ou ainda: o tempo que as imagens transportam refaz-se no nosso presente, relativizando todas as durações da história e, nessa medida, refazendo o nosso olhar sobre o presente — ou, talvez, o presente do nosso olhar.
Bruce recria memórias da soul
Only the Strong Survive é o título de um tema emblemático da soul, cantado por Jerry Butler e lançado em single em 1969. Agora, serve de título a um álbum de Bruce Springsteen (11 novembro) — é uma das 15 canções através das quais Bruce revisita a "idade de ouro" da soul. Eis Nightshift, um clássico da Motown Records, gravado em 1985 por The Commodores como tributo a Marvin Gaye e Jackie Wilson (ambos falecidos em 1984); em baixo, ficam os sons da canção-título, na gravação original de Jerry Butler.
segunda-feira, outubro 17, 2022
O amor da escrita
segundo Annie Ernaux [2/2]
Vencedora do Nobel da Literatura, Annie Ernaux escreve sobre homens e mulheres tocados pelo movimento das paixões (simples, como ela diz no título de um dos seus livros), aliado à sensação de que as imagens não são suficientes para dar conta do que vivemos: para ela é preciso escrever, continuar a escrever — este texto foi publicado no Diário de Notícias (7 outubro).
[ 1 ]
Ao longo de cinco décadas de escrita — o seu primeiro romance, Les Armoires Vides, surgiu em 1974 —, Ernaux nunca deixou de viajar nesse ziguezague entre o que é vivido no interior das fronteiras da mais radical intimidade e o que acontece no espaço “social”. Talvez, para lá de todas as diferenças, aproximando-a um pouco desse gesto que levou outra escritora francesa, Marguerite Duras, a usar a expressão “vida material” no título de um livro de 1987 — afinal de contas, Ernaux escreveu um Journal du Dehors (1993) e ainda La Vie Extérieure (2000), ambos remetendo para o que se passa “lá fora”.
Seja como for, o valor da intimidade não tem que ver com uma Annie Ernaux eremita. Lembremos, por exemplo, que ela foi uma das signatárias do chamado “Manifesto dos 58”, em finais de novembro de 2015, reagindo contra o facto de, na sequência dos atentados terroristas em Paris (no dia 13 do mesmo mês), as autoridades municipais, invocando questões de segurança, terem tentado interditar as manifestações públicas.
O nome da escritora está também (indirectamente) ligado ao chamado “Manifesto das 343”, documento fulcral na história social e política da França na segunda metade do século XX. Assim, a 5 de abril de 1971, a revista Le Nouvel Observateur publicou um texto assinado por 343 mulheres, apelando à legalização do aborto em França, lembrando que havia “um milhão de mulheres a praticar anualmente o aborto” e explicitando: “Declaro que sou uma delas”. Expunham-se, assim, à possibilidade de serem indiciadas legalmente e a penas que podiam ir até à prisão — entre as signatárias estavam Simone de Beauvoir (redactora do manifesto), Catherine Deneuve, Marguerite Duras, Gisèle Halimi e Jeanne Moreau.
Ernaux tinha feito um aborto clandestino em 1964, mas não assinou o documento, vindo a relatar a experiência vivida num livro perturbante, O Acontecimento, lançado no ano 2000, depois adaptado ao cinema por Audrey Diwan (filme admirável, vencedor do Festival de Veneza de 2021). Em 2014, numa entrevista ao jornal L’Humanité, recordou esse contexto: “Em 1971, estava fora de questão [assinar o manifesto]. Era impensável. Eu não era nada. Para mais, estava casada com um executivo e declarar publicamente que tinha abortado teria o efeito de uma bomba.” Na mesma entrevista, a escritora refere que o seu livro foi recebido pela “lei do silêncio”, citando mesmo um jornalista que lhe disse que não quis abordá-lo publicamente porque a sua leitura lhe “deu náuseas”.
Uma Paixão Simples (1991) deu origem a outro filme invulgar, realizado por Danielle Arbid em 2020. No seu centro dramático encontramos, ainda e sempre, o amor da escrita obcecado pelo modo como dois seres se aproximam e tocam (literal ou simbolicamente). Aí ela escreve (cito a tradução portuguesa de Tereza Coelho): “Quando eu era criança, para mim o luxo eram casacos de pele, vestidos compridos e vivendas à beira-mar. Mais tarde, pensei que fosse ter uma vida de intelectual. Agora parece-me também que é poder viver uma paixão por um homem ou por uma mulher.”
Subscrever:
Mensagens (Atom)