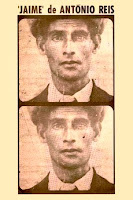|
| Luís Miguel Cintra em Objectos de Luz: o cinema e o seu duplo |
O filme Objectos de Luz revisita memórias do cinema português, ao mesmo tempo celebrando a vocação utópica de todo o cinema — este texto foi publicado no Diário de Notícias (16 outubro).
Subitamente, descobrimos no cinema português uma obra singular, apostada em celebrar a matéria de que se faz um filme. Matéria? Ou será essa “coisa” imaterial que nos faz ver e desejar ver mais? O título tem tanto de literal como de simbólico: Objectos de Luz. Apresentado no encerramento da 20ª edição do Doclisboa (com estreia comercial a 20 de outubro), esta realização de Acácio de Almeida e Marie Carré consegue o pequeno grande milagre de nos devolver a primordial ingenuidade do acto cinematográfico.
Bem sei que a palavra “ingenuidade” é, ou foi tornada, equívoca. Nestes tempos de saturação de informação, quem não ceda à avalanche de links, partilhas e polegares ao alto corre o risco de ser rotulado, pejorativamente, como “ingénuo”. Tudo isso potenciado pelas mais inócuas festividades virtuais, muitas vezes disfarçadas de libertação juvenil. A saber: confunde-se informação com conhecimento — como se a saturação informativa gerasse uma automática, inquestionável e universal pureza cognitiva.
Objectos de Luz quer conhecer a raiz do próprio acto cinematográfico. Trata-se, aliás, de começar “antes” do cinema, num registo cúmplice do infinito cósmico. Contemplamos o facto de vivermos e dependermos da luz, de sermos parte integrante dela. E reconhecemos a ingenuidade de tudo isso. Que é, então, a ingenuidade? A crença numa transcendência da luz capaz de devolver uma réstia de sagrado ao coração plebeu da humanidade.
Assim o diz, em off, a personagem que, no genérico final, surge identificada como “Homem da Luz”. A sua voz (do próprio Acácio de Almeida) dirige-se à luz: “Sentimos que somos parte integrante de ti, não sabemos formular, não sabemos questionar porque não temos informação ou formação suficiente para entender tudo isto.” Daí também a pergunta que a voz connosco partilha: “No fundo, o que somos nós em relação à luz? Qual é o elo que nos liga a ela?”
Objectos de Luz vai pontuando a sua narrativa — ou, se quisermos, a sua invocação da luz — com imagens de vários filmes com direcção fotográfica de Acácio de Almeida. Aí encontramos a referência tutelar de António Reis, a começar pelo emblemático Jaime (1974), por certo um dos filmes mais radicais e, se a ingenuidade me é permitida, mais selvagens que o cinema português já gerou — por lá passam também momentos de Trás-os-Montes (1976) e Ana (1982), de António Reis e Margarida Cordeiro. Ou ainda, entre outros, de O Cerco (1970), de António da Cunha Telles, Brandos Costumes (1975), de Alberto Seixas Santos, e Agosto (1988), de Jorge Silva Melo, incluindo, neste último, um luminoso grande plano da actriz principal — Marie Carré, precisamente.
Confesso que, ao ver Objectos de Luz, não pude deixar de pensar na falha cultural que nele se espelha. Não uma limitação do filme, entenda-se, mas um reflexo material e simbólico — sem dúvida dolorosamente político — da nossa cultura cinematográfica: como é que os espectadores mais jovens poderão reconhecer os filmes a que pertencem as imagens evocadas? Em boa verdade, creio que a maior parte deles não saberá identificar esses filmes porque o nosso património cinematográfico continua a ser uma presença fraca nos domínios da educação, seja ela escolar, em sentido literal, seja mediática. Nesta perspectiva, através da sua narrativa em forma de fábula da luz, este é também um filme sobre a memória, a sua riqueza, complexidade e urgência.
Porventura contradizendo o parágrafo anterior, importa sublinhar que não se procura, aqui, um banal efeito de “reconhecimento”. Não estamos perante um mero inventário de cenas soltas, à maneira do YouTube: mesmo não conhecendo os filmes de onde provêm as imagens, é possível seguir Objectos de Luz como uma aventura vivida por amor do cinema. O que mais conta é o facto de as imagens revisitadas, muito para lá de qualquer lógica “biográfica”, não existirem como meras referências museológicas — são estilhaços de um passado feito presente, projectado no futuro de novos espectadores.
A certa altura, essa ambivalência de qualquer medida do tempo, surge “materializada” através de dois espantosos encontros, cruzando o concreto e o abstracto como só o cinema pode fazer. Penso no confronto de Isabel Ruth, agora, com a Isabel Ruth filmada por Paulo Rocha. Penso no exercício de Luís Miguel Cintra contemplando (ou sendo contemplado por) a sua própria imagem no final de Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço (1970), de João César Monteiro. Milagre de luz, sem dúvida: o cinema é essa arte de refazer todas as medidas do tempo, para nós criando novas paisagens de ingénua e engenhosa filosofia em que podemos, talvez, não desistir da utopia.