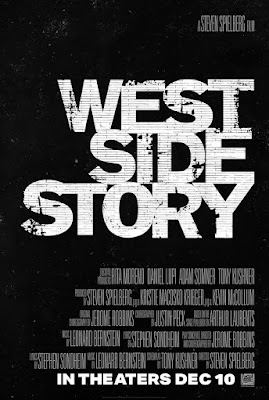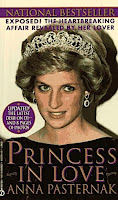|
| NICHOLAS GALANIN [artnet] Never Forget 2021 |
sexta-feira, abril 30, 2021
quinta-feira, abril 29, 2021
Billie Eilish
— a menina dos cabelos verdes
Vem aí o segundo álbum de Billie Eilish [Happier Than Ever] e o seu visual já mudou. Em todo o caso, os cabelos verdes ficaram como emblema de um período de especial criatividade; símbolo juvenil de âmbito universal, fenómeno singular do mundo da música, ela está retratada num belo documentário assinado pelo veterano R. J. Butler — este texto foi publicado no Diário de Notícias (18 março).
De que falamos quando falamos de Billie Eilish? O título do documentário agora em streaming [AppleTV+] pode ajudar-nos a lidar com a dificuldade da resposta: Billie Eilish: O Mundo Está um Pouco Turvo provém de um verso (“The world is a little blurry”) de uma canção do seu primeiro, até agora único, álbum de estúdio, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019).
Até certo ponto, estamos perante aquilo que na gíria comercial se designa como “making of”. Acompanhamos as sessões de gravação do álbum, protagonizadas pela cantora e o irmão, Finneas O’Connell, ou apenas, artisticamente, Finneas. As situações vão sendo pontuadas por referências ao síndrome de Tourette de Billie Eilish, e também aos períodos de depressão que viveu, embora o essencial seja sempre a música e a sua produção, incluindo a canção No Time to Die (do filme de James Bond ainda por estrear).
Com algumas nuances: assim, quase tudo acontece no quarto de Finneas, uma pequena divisão em que pouco mais cabe, para lá da cama, instrumentos musicais e computadores… Estamos na casa da família, com os pais a surgirem como personagens regulares, escutando os ensaios, dando as suas opiniões, discutindo as convulsões da vida da filha, estrela do YouTube (137 milhões de seguidores), 19 canções no Top 100 da revista Billboard… enfim, 17 anos de idade!
É verdade. Se o leitor passou os dois últimos anos em viagem por outra galáxia, permito-me informá-lo de três factos objectivos: Billie Eilish tinha 17 anos na altura do lançamento do seu álbum, ganhou cinco prémios nos Grammys de 2020 (incluindo revelação e álbum do ano) e no próximo dia 18 de dezembro completará 20 radiosas primaveras.
Daí a maravilhosa descoberta que é este trabalho documental assinado por R. J. Butler. Vale a pena lembrar que ele é um veterano destas andanças, tendo produzido, por exemplo The War Room (1993), da dupla Chris Hegedus/D. A. Pennebaker, sobre a campanha presidencial de Bill Clinton, e realizado The September Issue (2003), um retrato de Anne Wintour enquanto editora da revista Vogue.
Agora, ele tem a agilidade — e também o pudor — de lidar com Billie Eilish como uma pessoa que não se esgota na fabricação de “hits” (tema que, em qualquer caso, não está ausente). Dir-se-ia que assistimos a um home movie em que cada um, face à música e através da música, se expõe como personagem de um labirinto de muitos afectos, enigmas e revelações. Além do mais, recusando qualquer visão “pitoresca” da adolescência.
Nas relações de cinema e música, não creio que haja muitos filmes capazes de assumir este misto de intimidade e candura. Penso, inevitavelmente, no emblemático Na Cama com Madonna (1991), de Alek Keshishian, sem esquecer uma diferença fundamental: enquanto Madonna surgia como autora hiper-sofisticada das suas próprias imagens, Billie Eilish vive um drama realmente juvenil. A saber: até que ponto as imagens que produzo ilustram (ou mascaram) aquilo que sou? Sem esquecer que assistimos também ao começo do uso dos cabelos pintados de verde.
terça-feira, abril 27, 2021
"West Side Story", primeiras imagens
De que falamos quando falamos de West Side Story? Pois bem, do musical de Leonard Bernstein e Stephen Sondheim estreado em 1957 na Broadway, da adaptação cinematográfica de 1961 com assinatura de Robert Wise e Jerome Robbins e, finalmente, da versão de Steven Spielberg, agora agendada para 10 de dezembro (depois de ter estado prevista para 18 de dezembro de 2020) — as primeiras imagens aí estão, 90 segundos de puro deslumbramento.
"The Who Sell Out" — 1967 / 2021
No mapa da música popular, 1967 é o ano de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Seja como for, o génio dos Beatles não fica diminuído se recordarmos que, entre outros prodígios da mesma data, encontramos The Who Sell Out. Entre o rock primitivo de A Quick One (1966) e o rock experimental de Tommy (1969) — ou será ao contrário?... —, The Who ofereciam ao mundo uma peça de muitos contrastes que há muito transcendeu o contexto em que foi gerada, não deixando ser um emblema perfeito desse mesmo contexto.
Aí está uma prova suplementar: The Who Sell Out [Super Deluxe Edition], monumental colecção (5CD + 2LP) que, além do original (em mono e stereo), integra muitas e fascinantes variações e raridades, algumas nunca editadas. Ou como a banda — Roger Daltrey + Pete Towshend + John Entwistle + Keith Moon — possuía a radical capacidade de viver num constante processo de celebração & reinvenção. Escutem-se, por exemplo, os contrastes de I Can See for Miles e Sunrise.
segunda-feira, abril 26, 2021
"Nomadland" x 3
Três Oscars para o filme que ganha o prémio de melhor do ano — não é inédito, mas não é muito frequente. Seja como for, aconteceu com títulos tão famosos como Casablanca (1942) ou O Padrinho (1972). Dito de outro modo: a performance de Nomadland é também o reflexo de um ano em que a diversidade da integração se traduziu também na diversidade da premiação. Para a história, eis os filmes que ganharam mais do que uma estatueta dourada:
* 3 OSCARS
NOMADLAND
> filme
> realização: Chloé Zhao
> actriz: Frances McDormand
* 2 OSCARS
O PAI
> actor: Anthony Hopkins
> argumento adaptado: Christopher Hampton e Florian Zeller
JUDAS AND THE BLACK MESSIAH
> actor secundário: Daniel Kaluuya
> canção: "Fight for You", H.E.R.
> caracterização e cabelos: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson
> guarda-roupa: Ann Roth
MANK
> cenografia: Donald Graham Burt e Jan Pascale
> fotografia: Erik Messerschmidt
SOUL
> filme de animação: Pete Docter e Dana Murray
> música: Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste
SOUND OF METAL
> som: Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés e Michelle Couttolenc
> montagem: Mikkel E. G. Nielsen
>>> Lista completa de vencedores no site da Academia de Hollywood.
domingo, abril 25, 2021
The Weeknd, sob o signo de Frankenstein
Não é inédito, mas é pouco frequente: uma canção que já tinha sido difundida em teledisco, reaparece em remix, com novo teledisco. Acontece agora com Save Your Tears, de The Weeknd, tema do álbum After Hours (2020): a nova versão, com a participação de Ariana Grande, é uma magnífica reinvenção musical e simbólica, dir-se-ia uma revisão romanesca do mito de Frankenstein. Eis os dois registos.
Monte Hellman (1929 - 2021)
Monte Hellman, um dos nomes emblemáticos da produção americana dos anos 60/70, faleceu no dia 20 de abril, contava 91 anos — este texto foi publicado no Diário de Notícias (21 abril).
Em 2012, durante o Lisbon & Estoril Film Festival, tive o privilégio de fazer uma breve entrevista a Monte Hellman (publicada no DN, 17 novembro). Para lá da amabilidade da sua postura e da concisão das suas palavras, não me esqueci do modo como comentou a questão (porventura agora ainda mais dramática do que naquela altura) do conhecimento dos filmes através dos novos ecrãs virtuais.
Assim, quando observei que muitos espectadores, sobretudo mais jovens, passaram a ver filmes apenas no computador ou em ecrãs ainda mais pequenos, Hellman sublinhou: “Por vezes mesmo muito pequenos… É uma perda: não há nada que se compare a uma boa projecção num grande ecrã. E quanto maior, melhor! A melhor projecção que vi de Two-Lane Blacktop / A Estrada Não Tem Fim foi num “drive-in”, com um ecrã quatro vezes maior do que numa sala normal.”
As palavras de Hellman são tanto mais sugestivas quanto aquela que seria a sua derradeira longa-metragem — Road to Nowhere / Sem Destino (2010) — nasce de uma calculada ambiguidade. Por um lado, retrata os bastidores de um filme produzido com os recursos específicos das técnicas mais recentes; por outro lado, há nele um desejo de ficção que não faz sentido desligar de uma dimensão eminentemente clássica em que o realismo pode ser apenas uma porta para qualquer coisa de onírico.
Vale a pena recordar, por isso, que Hellman foi também um dos criadores mais emblemáticos do tempo em que os géneros clássicos foram sendo metodicamente decompostos. Os seus “westerns”, em particular, reflectem o desencanto de uma América que ainda circula pelos seus lugares mitológicos, mas já não pode renovar as suas ilusões utópicas.
Filmes como Duelo no Deserto e O Furacão (ambos de 1966) são testemunho dessa transformação, nessa medida mantendo uma actualidade simbólica, no mínimo, perturbante. Curiosamente, Jack Nicholson lidera os respectivos elencos, surgindo também como produtor e, no segundo caso, autor do argumento. Nessa medida, a obra de Hellman foi uma janela aberta para a reconversão do trabalho dos actores ao longo das décadas de 60/70.
A sua herança envolve, por isso, a defesa de um espírito genuinamente independente. E não apenas porque a sua trajectória, muito marcada pela ligação ao produtor Roger Corman, se manteve distante das lógicas dos grandes estúdios. Também porque, para Hellman, o cinema foi sempre um domínio disponível para a sua própria reinvenção, como Road to Nowhere tão modelarmente exemplifica. De forma mais incisiva, com ligeiro tempero de ironia, recordo mais algumas palavras da conversa no Estoril: “Se rodarmos uma cena dentro de quatro paredes, isso é teatro; mas a partir do momento em que há uma janela para a rua, para a estrada, então torna-se cinema.”
sábado, abril 24, 2021
Este (não) é o meu corpo
 |
| Robert Downey Jr. em pose de Homem de Ferro: envolvido em metal, o actor deixou de ser determinante |
De que falamos quando falamos do corpo? A pergunta é antiga, mas adquiriu uma perturbante actualidade, uma vez que somos agora tentados a distinguir um corpo de outro apenas pela presença ou ausência do vírus — este texto foi publicado no Diário de Notícias (14 março).
A urgência dos nossos dramas sanitários faz-nos viver as imagens e o imaginário dos nossos corpos num torpor, individual e colectivo, pontuado pelo medo. Temos medo e passámos a distinguir os nossos corpos a partir de uma dicotomia radical: a presença ou a ausência do vírus. Tempos difíceis para qualquer desejo de romantismo. Talvez por isso, as ficções virtuais que consumimos oscilam entre a abstracção pueril e a contundência do realismo.
No primeiro caso, encontramos séries como The Crown — a realeza persiste como pano de fundo de um imaginário de fábula em que os corpos são, ingenuamente, intermutáveis: primeiro a rainha, agora a princesa, enfim, todos podem trocar de intérpretes porque, de facto, já não há personagens, apenas marionetas congeladas numa novela caucionada pela “história”. Exemplo da segunda variante é o admirável filme do húngaro Kornél Mundruczó, Pieces of a Woman, obviamente (e justificadamente) reconhecido como peça de exaltação das singularidades do feminino, mas sem que isso o impeça de consumar uma metódica desmontagem do imaginário tradicional da maternidade.
É no futebol que encontramos uma das mais curiosas manifestações do empobrecimento das nossas linguagens sobre o corpo. Assim, há uma espécie de pudor que impede o reconhecimento simples de que uma equipa joga mal, optando-se por uma derivação fisiológica: estão a jogar mais com o “coração” do que com a “cabeça”… O “coração”, órgão mítico da verdade de todas as paixões (até mesmo no Big Brother televisivo), passa a ser definido como instrumento de erro.
De que falamos, então, quando falamos do corpo? Há muito tempo (ou talvez não, depende das medidas de cada um), Eduardo Prado Coelho reflectia sobre os ecos díspares de tal interrogação. Celebrava ele o efeito de libertação dos discursos gerado pelo 25 de Abril de 1974, definindo um programa de trabalho que seria sempre, em última instância, colectivo: “Recensear as palavras rasuradas em cortes de jornais, em discursos públicos, em conversas calafetadas, em legendas de jornais.” E acrescentava um breve inventário de algumas dessas palavras: “comunista, fascista, luta de classes, orgasmo, virgem, censura…”
São citações extraídas de um texto com data de 14 de Maio de 1974 (ainda escrevíamos os meses com maiúscula…), servindo de introdução à edição portuguesa de O Prazer do Texto, de Roland Barthes (Edições 70). São palavras que não podem ser deslocadas de um contexto muito específico em que a energia da palavra escrita ainda não se confrontava com o império de imagens, multifacetado, contraditório e global, que hoje habitamos enquanto espectadores permanentes dos nossos ecrãs de televisão, computador ou telemóvel.
Eduardo Prado Coelho convoca o leitor para lidar com Barthes, não como mensageiro de uma qualquer verdade definitiva, antes como hipótese de interrogação do ilusório naturalismo do mundo. A começar pelo enigma do corpo. Ou de acordo com as palavras cristalinas de Barthes: “O prazer do texto é o momento em que o meu corpo vai seguir as suas próprias ideias — pois o meu corpo não tem as mesmas ideias que eu.”
A herança de Barthes adquire uma actualidade tanto maior quanto podemos observar que a reconfiguração (digital) dos corpos se tornou uma lei de encenação num espaço audiovisual — as aventuras de super-heróis — que, nos últimos vinte anos, passou a dominar o mercado global das imagens. Aí, quase sempre de forma automática, o corpo é tratado como peça figurativa que pode ser reconvertida em qualquer formato. Consequência prática? A banalização do trabalho do actor, reconhecido apenas como auxiliar de um ritual em que o seu corpo é festivamente desvalorizado.
Lembremos apenas o caso de um actor tão talentoso como Robert Downey Jr., notável, por exemplo, em Zodiac (2007), de David Fincher. Ao assumir a personagem do Homem de Ferro (cujo primeiro título surgiu em 2008), o seu corpo foi, literalmente, envolvido em metal, pouco mais lhe exigindo do que uma pose de crescente banalidade dramática. Numa civilização como a nossa, marcada pelo poder transfigurador da palavra (“este é o meu corpo”), tal banalização dá que pensar. Com a cabeça e o coração.
sexta-feira, abril 23, 2021
"Sticky Fingers", 50 anos
Ah! A capa de Andy Warhol... É um daqueles álbuns que gravou para a posteridade uma lição rudimentar, mas essencial: a tradição ainda pode continuar a ser o que era... Dito de outro modo: em 1971, os Rolling Stones viviam entre tragédia e renascimento, numa encruzilhada definida pela morte de Brian Jones (em 1969, durante as gravações de Let It Bleed) e pela entrada na banda de Mick Taylor (ainda durante essas mesmas gravações).
Daí, talvez, o enquistamento afectivo que se exprimiu em vertiginosa energia criativa, serenamente ancorada na contaminação de blues e rock: Sticky Fingers é o espelho de tudo isso, contendo clássicos como Brown Sugar, Wild Horses, I Got the Blues, Sister Morphine ou Dead Flowers — foi editado a 23 de abril de 1971, faz hoje 50 anos.
>>> Brown Sugar (ao vivo, no Texas, 1972).
>>> Wild Horses (versão acústica, lyric video).
>>> Dead Flowers (The Marquee, 1971).
quinta-feira, abril 22, 2021
A IMAGEM: François Gragnon, 1964
 |
| FRANÇOIS GRAGNON / Magnum Steve McQueen — Erfurt, RDA: Campeonato Mundial de Motocross 1964 |
terça-feira, abril 20, 2021
Ser ou não ser jogador de xadrez
| Max Pomeranc |
Jogada Inocente é o retrato de um menino de 7 anos, génio do xadrez: admirável estreia na realização de Steven Zaillian, o filme está, discretamente, disponível em streaming — este texto foi publicado no Diário de Notícias (11 março).
Consultamos a ficha de Jogada Inocente (Netflix) e ficamos a saber que é a história de um “génio do xadrez” com 7 anos de idade, surgindo identificado como do género de “filmes para toda a família”. Estranhamente, tal generalização parece limitada pelo facto de ser “recomendado para maiores de 13 anos”…
Não seria necessário, muito menos obrigatório, qualquer enquadramento crítico para apresentar o filme, mas é pena que esta pérola da produção americana de 1993 surja, assim, tão desprotegida. E tanto mais quanto Searching for Bobby Fischer (título original) é mesmo uma raridade: nunca foi lançado nas salas portuguesas, embora exista no mercado numa edição em DVD.
Seria interessante, por exemplo, recordar que estamos perante a estreia na realização de Steven Zaillian, nome essencial na história do cinema americano das últimas décadas, desde logo porque, no mesmo ano de Jogada Inocente, assinou o argumento de A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, trabalho que viria a valer-lhe um Oscar. Zaillian é ainda o criador (em parceria com Richard Price) de The Night Of (2016), uma das mais fascinantes séries de televisão que se fizeram neste século. Sem esquecer que é também o argumentista de um dos objectos fulcrais na dinâmica de produção da Netflix: O Irlandês (2019), de Martin Scorsese.
Bobby Fischer (1943-2008), lendário jogador de xadrez, surge, não exactamente como personagem, antes como ponto de fuga utópico do pequeno Josh Waitzking (figura verídica, prodígio juvenil do xadrez nos EUA). Invulgarmente dotado para os caminhos cruzados do tabuleiro de xadrez, Josh vai viver uma odisseia capaz de colocar à prova o equilíbrio do seu espaço familiar e a consistência dos seus estudos. No limite, este é um filme sobre a convergência (ou a contradição) de dois vectores: o processo de crescimento e integração num determinado tecido social e a procura de uma perfeição do jogo que tende a confundir-se com um ideal artístico.
Sem nunca ceder a qualquer visão paternalista ou pitoresca da infância, Zaillian revela-se um subtil observador da natureza humana, além do mais contando com um excelente elenco que inclui Max Pomeranc (na altura com 8 anos, no papel de Josh), Ben Kingsley (o professor de xadrez), Joe Mantegna e Joan Allen (os pais). Pormenor nada secundário: a direcção fotográfica tem assinatura de Conrad L. Hall (1926-2003), mestre absoluto da luz e da cor, aqui nomeado para um Oscar.
segunda-feira, abril 19, 2021
London Grammar, Opus 3
Há quem veja neles a herança muito directa dos Massive Attack... Ou, pelo menos, da sua vertente mais romanesca, aí onde a envolvência sonora nasce da sofisticação electrónica. A sugestão, musicalmente incorrecta, parece mais justa do que nunca. Sobretudo porque os London Grammar se mantêm alheios a qualquer atitude mais ou menos copista.
Depois de If You Wait (2013) e Truth Is a Beautiful Thing (2017), o terceiro álbum de estúdio, Californian Soil, é uma proeza invulgar de uma atitude criativa de quem dispensa qualquer caução do "ambiente" musical do presente, muito menos a obediência a qualquer moda. E se Dan Rothman (guitarras) e Dot Major (piano, bateria, etc.) são, obviamente, músicos de especial talento, a voz de Hannah Reid persiste como elemento fulcral da identidade desta magnífica aventura musical — eis a canção-título.
domingo, abril 18, 2021
Diana
— a princesa do povo televisivo [4/4]
Ao ganhar um Globo de Ouro pelo seu papel na série The Crown, Emma Corrin entrou na galeria de actrizes cuja carreira ficará para sempre marcada pela interpretação da Princesa Diana: a dimensão mítica da personagem envolve um desafio artístico e simbólico — este texto foi publicado no Diário de Notícias (6 março).
Dir-se-ia que, no domínio audiovisual, a personagem de Diana tem sido, sobretudo, a princesa do povo televisivo. Como se a sua repetida “reencarnação” no pequeno ecrã definisse e sustentasse uma espécie de ritual mediático, compulsivo e redentor. Em 2007, as teorias da conspiração em torno da morte de Diana encontraram mesmo expressão em The Murder of Princess Diana, produção de uma televisão por cabo dos EUA.
Em cinema podemos registar um filme menor, ainda que empenhado em escapar aos clichés mais simplistas: lançado em 2013, intitula-se apenas Diana. Trata-se, neste caso, de evocar a relação amorosa de Diana com Hasnat Khan, cirurgião paquistanês a trabalhar em Londres. Num registo de sereno intimismo, o filme dirigido pelo alemão Olivier Hirschbiegel distingue-se, pelo menos, pela sobriedade dos protagonistas: Naomi Watts interpreta Diana, estando o papel de Khan entregue a Naveen Andrews (na altura muito popular graças à sua participação na série Lost).
Entretanto, é caso para dizer que a saga continua. Assim, Diana vai reaparecer na quinta temporada de The Crown. Mantendo a estratégia de diversificação dos intérpretes principais, o elenco será renovado, com a personagem de Diana entregue à australiana Elizabeth Debicki — vimo-la, em 2020, em Tenet, de Christopher Nolan, o único “blockbuster” de verão que ainda passou nas salas; no papel da rainha, Imelda Staunton sucede a Olivia Colman.
Enfim, se o tratamento cinematográfico de Diana evoluir num sentido realmente original, talvez possamos dizer que as maiores expectativas apontam para um filme que terá como título o seu apelido de solteira: Spencer. A princesa será interpretada por Kristen Stewart, a talentosa actriz americana cuja carreira, incerta e irregular, continua assombrada pela imagem “juvenil” dos filmes da série Twilight. Sem esquecer, claro, que a realização pertence ao chileno Pablo Larraín, notável analista da ditadura de Augusto Pinochet (recordemos apenas o exemplo de Post Mortem, com data de 2010), cuja filmografia inclui esse filme prodigioso que é Jackie (2016), retrato de Jacqueline Kennedy, interpretada por Natalie Portman, outra figura feminina envolta numa mitologia muito peculiar.
A rodagem de Spencer iniciou-se em janeiro, sabendo-se apenas que o argumento, escrito por Steven Knight, se concentra num fim de semana, no início dos anos 90, em Sandringham House, residência particular de Isabel II — terá sido o momento em que Diana decidiu divorciar-se do Príncipe Carlos.
quinta-feira, abril 15, 2021
Mick Jagger + Dave Grohl
— a verdade primitiva do rock'n'roll
Mick Jagger com a companhia de Dave Grohl: Eazy Sleazy aí está, uma canção nascida do interior da pandemia, sem paternalismos disfarçados de pedagogia, vogando numa energia vital sem outro destino que não seja a verdade orgânica da sua performance — rock'n'roll, sem mais, primitivo, visceralmente presente.
The numbers were so grim
Bossed around by pricks
Stiffen upper lips
Pacing in the yard
Youre trying to take the mick
You must think im really thick
Looking at the graphs with a magnifying glass
Cancel all the tours footballs fake applause
No more travel brochures
Virtual premieres
Ive got nothing left to wear
Looking out from these prison walls
You got to rob peter if you’re paying paul
But its easy easy everythings gonna get really freaky
Alright on the night
Soon it ll be be a memory youre trying to remember to forget
Thats a pretty mask
But never take a chance tik tok stupid dance
Took a samba class I landed on my ass
Trying to write a tune you better hook me up to zoom
See my poncey books teach myself to cook
Way too much tv its lobotomising me
Think ive put on weight
Ill have another drink then ill clean the kitchen sink
We escaped from the prison walls
Open the windows and open the doors
But its easy easy
Everything s gonna get really freaky
Alright on the night
Its gonna be a garden of earthly delights
Easy sleazy its gonna be smooth and greasy
Yeah easy believe me
Itll only be a memory youre trying to remember
To forget
Shooting the vaccine bill gates is in my bloodstream
Its mind control
The earth is flat and cold its never warming up
The arctics turned to slush
The second comings late
Theres aliens in the deep state
We’ll escape from these prison walls
Now were out of these prison walls
You gotta pay peter if you’re robbing paul
But its easy easy everything s gonna be really freaky
Alright on the night
Were all headed back to paradise
Yeah easy believe me
Itll be a memory you’re trying to remember to forget
Easy cheesy everyone sing please please me
Itll be a memory you’re tring to remember to forget
quarta-feira, abril 14, 2021
Raymond Cauchetier
— sob o signo da Nova Vaga
 |
| [ 1959 ] |
As fotografias dos primeiros filmes de Jean-Luc Godard e François Truffaut, assinadas por Raymond Cauchetier, definem uma memória cinéfila em que a reportagem se cruza com os afectos — este texto foi publicado no Diário de Notícias (7 março).
Eis uma imagem emblemática dos tempos heróicos da Nova Vaga francesa: Jean Seberg beija Jean-Paul Belmondo em cenário de rodagem de À Bout de Souffle (O Acossado), primeira longa-metragem de Jean-Luc Godard. Ele exibe aquele misto de ingenuidade e fatalidade de quem refaz a iconografia clássica de Humphrey Bogart em tom parisiense. Ela é a musa redentora, ma non troppo, que vende o “New York Herald Tribune” nos Campos Elíseos (o nome do jornal está bordado na emblemática camisola de malha), desse modo impondo-se como ícone de um novo e amargo romantismo. Não por acaso, como muitas vezes acontece no cinema de Godard, há coisas para ler…
Estava-se em 1959. A fotografia pertence a uma fascinante galeria de momentos de rodagem de filmes que, em França, definiram novas formas de entender o cinema, desde logo a partir da sua fabricação — no mesmo ano, recorde-se, surgiram os também fundamentais Os 400 Golpes, de François Truffaut, e Hiroshima, Meu Amor, de Alain Resnais.
Podemos associá-la a outros instantâneos com protagonistas da Nova Vaga. São imagens que se consolidaram como testemunhos em que o trabalho desenha o mapa da cinefilia e a história se confunde a mitologia. Exemplos? Godard a beijar Anna Karina durante a rodagem do seu filme seguinte, Uma Mulher É uma Mulher (1961); Jeanne Moreau, Henri Serre e Oskar Werner, protagonistas de uma utopia sem nome, a correr na ponte metálica de Jules e Jim (1962), de François Truffaut; outra vez Truffaut, a acender um cigarro a Françoise Dorléac, filmando La Peau Douce/Angústia (1964), talvez na zona de Lisboa, uma vez que uma parte do filme, coproduzido por António da Cunha Telles, foi rodado em Portugal… etc.
 |
| Uma Mulher É uma Mulher |
 |
| Jules e Jim |
 |
| La Peau Douce |
Para lá das afinidades geracionais e cinéfilas, estas fotografias têm como ponto comum a assinatura de Raymond Cauchetier. Divulgada há poucos dias, a notícia do seu falecimento (a 22 de fevereiro, contava 101 anos) suscita uma revisitação apaixonada desses momentos que, de facto, são indissociáveis das imagens — e do imaginário — dos filmes que fizeram a Nova Vaga francesa, porventura o movimento com mais profundas e duradouras influências em cinematografias de todo o mundo.
O envolvimento de Cauchetier com a Nova Vaga — iniciado, precisamente, com À Bout de Souffle, a convite de Godard — é apenas um dos capítulos de uma existência em que as dificuldades materiais da infância e juventude (foi criado pela mãe, sem nunca ter conhecido o pai) se combinam com um genuíno espírito de aventureiro. Integrou a Resistência durante a ocupação alemã da França, tendo começado a fotografar na Indochina, enquanto elemento da Força Aérea francesa.
 |
| Raymond Cauchetier |
As fotografias de À Bout de Souffle e dos outros filmes da época resultam de um olhar em constante adaptação ao imponderável dos acontecimentos. Nessa medida, reflectem o espírito criador dos próprios filmes, distantes das regras tradicionais do trabalho de estúdio, assumindo as consequências das variações da luz e da imprevisibilidade dos lugares e das gentes.
Até aí, pode dizer-se que os actores e actrizes do cinema francês eram fotografados de duas maneiras: no final de cada plano de filmagem, num registo automático de “duplicação” da cena registada; ou em poses de riquíssima elaboração formal, cujo modelo de referência era o trabalho dos estúdios Harcourt (sempre activos, entenda-se, e continuando a produzir magníficos retratos). Através do trabalho de Cauchetier, a foto de rodagem passou a integrar a volatilidade dos momentos, cruzando a objectividade da reportagem com a cumplicidade dos afectos. Foi uma tarefa breve — Cauchetier abandonou o mundo do cinema em 1968, desiludido com os baixos salários de um fotógrafo de cena —, mas a sua sedução persiste, ampliada pelas camadas do tempo.
segunda-feira, abril 12, 2021
Diana
— a princesa do povo televisivo [3/4]
Ao ganhar um Globo de Ouro pelo seu papel na série The Crown, Emma Corrin entrou na galeria de actrizes cuja carreira ficará para sempre marcada pela interpretação da Princesa Diana: a dimensão mítica da personagem envolve um desafio artístico e simbólico — este texto foi publicado no Diário de Notícias (6 março).
A 29 de julho de 1981, o casamento de Carlos, Príncipe de Gales e Lady Diana Spencer foi transmitido em directo para cerca de meia centena de países, tendo sido acompanhado por uma audiência global calculada em 750 milhões de espectadores (30 milhões no Reino Unido). Não admira que a apropriação da história de Diana, envolvendo a consolidação de uma imagem de recortes mitológicos, tenha sido, antes de tudo o mais, um fenómeno televisivo.
Logo em 1982, dois telefilmes americanos abordaram o casamento: Charles & Diana: A Royal Love Story (ABC) e The Royal Romance of Charles and Diana (CBS), com a personagem de Diana interpretada, respectivamente, por Caroline Bliss e Catherine Oxenberg. Nenhum deles ocupa um lugar destaque em qualquer história da televisão. E por uma razão muito básica: não passam de dramatizações vulgares, promovendo a noção pueril de que a agitação dos noticiários se confirma e, de alguma maneira, amplia na “dramatização” dos protagonistas e da sua intimidade.
Esta lógica foi acompanhando a evolução do casamento de Carlos e Diana, ecoando, “em paralelo”, as respectivas atribulações mais ou menos mediatizadas. O romantismo das origens deu lugar à purificação pela verdade. Assim, por exemplo, em 1993, cerca de um ano depois da separação do casal (o divórcio só seria oficializado em 1996), a NBC produzia um telefilme cujo título proclamava a necessidade de contar a “história verídica”: Diana: Her True Story tinha como protagonista Serena Scott Thomas (irmã mais nova de Kristin Scott Thomas).
Em 1994, a relação de Diana com James Hewitt surgiu tratada no livro Princess in Love, de Anna Pasternak. A sua adaptação daria origem, em 1996, a um telefilme homónimo (CBS) que terá tido a sua mais contundente apreciação crítica formulada pela própria protagonista, Julie Cox. Assim, em vésperas da primeira emissão do telefilme, declarou à revista People que nem sequer lera o livro: “Pensei que iria detestá-lo. Pensei que, se o lesse, iria ter muita dificuldade em encarar o argumento a sério.”
domingo, abril 11, 2021
Hilary Hahn em tom parisiense
Violinista americana, nascida em 1979, Hilary Hahn é, hoje em dia, uma referência de excelência. A ponto de apresentar agora um álbum, Paris (Deutsche Grammophon), que, sendo um objecto de pura satisfação pessoal, não deixa de ser um acontecimento realmente excepcional no mundo do violino.
Porquê Paris? As motivações têm tanto de cultural como de afectivo (não será a mesma coisa?):
— Poema para Violino e Orquestra, do romântico Ernest Chausson, é, de facto, a única obra composta por um francês (em 1896);
— Concerto para Violino nº 1, de Sergei Prokofiev, teve a sua primeira performance, em Paris, corria o ano de 1923;
— Duas Serenatas, do finlandês Einojuhani Rautavaara, foram compostas para Hahn, sendo das derradeiras obras do compositor (falecido em 2016); tratou-se de uma encomenda do maestro, também finlandês, Mikko Franck, sendo ele que dirige em todo este admirável registo a Orquestra Filarmónica da Radio France.
Sem hesitação, este é, desde já, um dos álbuns incontornáveis de 2021 — eis a faixa de abertura, isto é, a obra de Chausson.
June Newton / Alice Springs (1923-2021)
 |
| Auto-retrato, 1972 |
Notável retratista, as suas fotografias nascem de um olhar disponível para a singularidade da pose e a complexidade dos seres humanos: a australiana June Newton faleceu no dia 9 de abril, em Monte Carlo, Mónaco — contava 97 anos.
A sua carreira evoluiu em paralelo com a do marido, o grande Helmut Newton (1920-2004), sem que a criatividade de qualquer deles dependesse do trabalho do outro. De qualquer modo, regra geral, a partir dos anos 70, passou a assinar as suas imagens como Alice Springs.
Começou por ser modelo e actriz de teatro, tendo ganho um prémio de interpretação, na Austrália, para a melhor actroz de 1956. Dir-se-ia que o seu savoir faire como intérprete terá contribuído para a subtil teatralidade com que sabia encenar aqueles que retratava. O essencial da sua obra está preservado na Fundação Helmut Newton, em Berlim; em 1999, o casal publicou um livro com fotografias de ambos, intitulado Us and Them.
 |
| Brigitte Nielsen, 1990 |
 |
| Diana Vreeland, 1983 |
 |
| June fotografada por Helmut Hotel Volney, Nova Iorque, 1972 |
>>> Obituário na Vanity Fair.
>>> Site oficial da Fundação Helmut Newton.
sábado, abril 10, 2021
St. Vincent
— novo teledisco de "Daddy's Home"
Depois do lyric video, aí está o teledisco de The Melting of the Sun — o novo álbum de St. Vincent, Daddy's Home, vai-se consolidando em imagens tecidas de precisão, drama e nostalgia.
quinta-feira, abril 08, 2021
Diana
— a princesa do povo televisivo [2/4]
| [ 2006 ] |
Ao ganhar um Globo de Ouro pelo seu papel na série The Crown, Emma Corrin entrou na galeria de actrizes cuja carreira ficará para sempre marcada pela interpretação da Princesa Diana: a dimensão mítica da personagem envolve um desafio artístico e simbólico — este texto foi publicado no Diário de Notícias (6 março).
[ 1 ]
Mesmo não esquecendo que a memória de Diana envolve componentes trágicas e romanescas ainda relativamente próximas, é um facto que as personagens da realeza há muito funcionam como uma espécie de “suplemento” artístico. E, há que reconhecê-lo, com especial eficácia nas cerimónias de atribuição de prémios.
Aquele ou aquela que interpreta uma dessas personagens, rei ou rainha, príncipe ou princesa, parece surgir “engrandecido” pela respectiva dimensão mitológica. Lembremos o exemplo de um filme tão convencional como O Discurso do Rei (2010), de Tom Hooper: o academismo do empreendimento não o impediu de ganhar quatro Oscars, incluindo o de melhor actor (Colin Firth) e melhor filme do ano, numa corrida em que, vale a pena lembrar, estavam envolvidos títulos tão singulares como A Rede Social, de David Fincher, e A Origem, de Christopher Nolan.
 |
| [ 1939 ] |
Na arqueologia cinematográfica da Diana, será fundamental recordar A Rainha (2006), o filme de Stephen Frears sobre a conjuntura política, mediática e emocional vivida na sequência da morte de Diana. A esse propósito, quem se lembra de Laurence Burg?… É esse o nome de uma conselheira municipal de uma cidadezinha do nordeste francês que teve alguma notoriedade mediática como “sósia” daquela que a história consagrou como Princesa do Povo… Pois bem, Frears soube do facto e convidou-a para assumir a personagem de Diana no seu filme.
Como todos os espectadores de A Rainha se recordam, Diana era, afinal, uma personagem absolutamente secundária. Central pelas implicações familiares, políticas e simbólicas da sua morte, mas secundária no sentido em que tudo se passava em torno de Isabel II (a sua composição valeu um Oscar a Helen Mirren). Seja como for, há no filme de Frears um dado que, agora, somos levados a reconhecer como premonitório: o argumento tem assinatura de Peter Morgan, o criador, também argumentista, de The Crown.
quarta-feira, abril 07, 2021
A iconografia da pandemia
Será que se pode dizer que existe uma iconografia específica da pandemia, por ela gerada e, num certo sentido, humanizada?
A foto está publicada no jornal Libération (5 abril), ilustrando uma entrevista ao sociólogo Alexis Spire sobre o novo sistema de relações dos cidadãos com os médicos — em jogo está o grau de confiança dessas relações e o seu cruzamento (ou colisão) com as relações com as figuras da cena política.
domingo, abril 04, 2021
St. Vincent no Saturday Night Live
A promoção do novo álbum de St. Vincent, Daddy's Home, passou agora pelo Saturday Night Live, numa edição apresentada por Daniel Kaluuya. São momentos de sofisticada sobriedade com as duas canções já divulgadas: Pay your Way in Pain e The Melting of the Sun.
Elizabeth King — 77 anos, 1º álbum
Uma história de mais de meio século pode ser contada em meia dúzia de linhas? Não... Digamos apenas que Elizabeth King, nascida em Grenada, Mississipi, começou a ser conhecida (e reconhecida) como uma voz do gospel através de Testify, single lançado em 1969, depois integrando o grupo The Gospel Souls entre 1970 e 1973. Que aconteceu, então, nos 48 anos seguintes? King retirou-se para tratar dos seus 15 filhos, continuando a cantar na igreja e num programa semanal de rádio dedicado ao gospel. Até que em 2019 a Bible & Tire Recording, de Memphis, editou Elizabeth King and The Gospel Souls, uma antologia de singles lançados na década de 70. Daí surgiu o convite para aquele que é, para todos os efeitos, aos 77 anos, o álbum de estreia de King: Living the Last Days aí está como um prodígio de energia espiritual e verdade artística — este é o tema título.
sábado, abril 03, 2021
António Silva, o português suave [3/3]
 |
| A Canção de Lisboa (1933), com Beatriz Costa |
Foi homem de teatro e pioneiro da televisão, mas é na memória da comédia cinematográfica “à portuguesa” que a sua imagem persiste como fundamental referência artística e afectiva: 50 anos depois do seu falecimento, lembramos o actor António Silva — este texto foi publicado no Diário de Notícias (27 fevereiro). |
No caso de António Silva, a fascinante capacidade de explorar as nuances sociais das suas personagens talvez não seja estranha a uma história pessoal marcada pela consciência muito directa das diferenças e hierarquias sociais. De origem humilde, a sua biografia regista o facto de ter sido como empregado de comércio que foi conseguindo sustentar os estudos (Curso Geral de Comércio, segundo a designação da época), muito cedo envolvendo-se com o meio teatral — a sua estreia como profissional ocorreu em 1910, no Teatro da Rua dos Condes.
O teatro de revista, em particular, terá dado a António Silva, tal como a outros actores da sua geração, uma agilidade física e um gosto lúdico das palavras indissociáveis de um estado de permanente improvisação. Será exagero supor que os seus momentos mais emblemáticos são totalmente improvisados, mas basta lembrar algumas situações em que contracena com Vasco Santana — em A Canção de Lisboa (1933) e O Pátio das Cantigas (1942) — para sentirmos esse gosto por uma certa “instabilidade” da representação em que o diálogo mais elaborado parece impor-se de modo absolutamente instintivo.
Exemplo típico, há muito integrado na linguagem popular, é a expressão “Ó Evaristo, tens cá disto?”, de O Pátio das Cantigas: Vasco Santana, no papel de Narciso, guitarrista versátil mas sempre bêbedo, utiliza-a para provocar o muito sério António Silva, o Sr. Evaristo que gere a sua drogaria como um mundo à parte. Sem esquecer, claro, que por estes filmes passam mais alguns outros intérpretes fundamentais deste período, como Beatriz Costa, Ribeirinho ou Manuel Santos Carvalho.
O inevitável destaque de António Silva no universo da comédia não exclui, antes reforça, as suas primordiais qualidades dramáticas e melodramáticas. Podemos observá-las através de personagens interpretadas em filmes como As Pupilas do Senhor Reitor (1935), de Leitão de Barros, João Ratão (1940), de Jorge Brum do Canto, Amor de Perdição (1943), de António Lopes Ribeiro, Camões (1946), de Leitão de Barros, ou O Dinheiro dos Pobres (1956), de Artur Semedo.
São momentos de um contexto de produção que, ao longo desses anos, se foi decompondo. Como escreve Bénard da Costa: “(…) em 1956, governantes e governados já não pensavam em cinema. Pensavam na televisão, com Ano 1 em 1957.” Artisticamente, António Silva viveu esses tempos numa sugestiva duplicidade: foi o período em que, com o empresário Vasco Morgado, renovou o sucesso no teatro de revista (Viva o Luxo, Abaixo as Saias, Lisboa à Noite, etc.), ao mesmo tempo que surgia como pioneiro do fenómeno televisivo em muitas emissões de teatro, não poucas vezes, num registo típico dessa conjuntura técnica, emitidas em directo. Agora que temos as galas em directo da “Reality TV”, António Silva quase parece um extraterrestre do mundo mediático. Estranhamente ou não, sentimos por ele a mesma admiração e o mesmo carinho.
sexta-feira, abril 02, 2021
St. Vincent em família
Nina Simone, Marilyn Monroe, Joni Mitchell... Eis algumas das inspirações pessoais que Annie Clark cita na canção The Melting of the Sun. É uma galeria familiar que prossegue a divulgação do novo álbum de St. Vincent, Daddy's Home (14 maio) — ou como a nostalgia das referências não exclui a excelência da experimentação.
It's just the melting of the sun
(It's just the sun)
I wanna watch you watch it burn
(So watch it burn)
We always knew this day would come
(The day has come)
It's just the melting of the sun
A função da crítica [citação]
>>> O objectivo de qualquer comentário sobre a arte deveria ser nos nossos dias tornar as obras de arte — e, por analogia, a nossa própria experiência — mais, e não menos, reais para nós. A função da crítica devia ser mostrar como é o que é, ou mesmo que é o que é, em vez de mostrar o que significa.
in Contra a interpretação e outros ensaios
(tradução de José Lima)
ed. Gótica, Lisboa, 2004
Subscrever:
Mensagens (Atom)