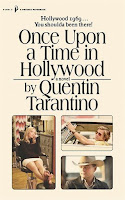|
| Ele e ela |
Falar com as máquinas deixou de ser futurismo: há mesmo quem diga que se trata de uma experiência “natural e enriquecedora” — este texto foi publicado no Diário de Notícias (8 agosto), com o título 'Na companhia do nosso assistente virtual'.
Eis um discurso optimista, produto de algumas das mais discretas, e também mais poderosas, convulsões culturais que vão transfigurando o mundo em que vivemos: “O desenvolvimento de sistemas de voz em aplicações móveis, sites da internet, telemóveis e smartphones decorre do crescente interesse dos consumidores em estabelecer diálogo com os seus dispositivos técnicos.” Quem o diz é Donald Buckley, em artigo de opinião no Variety (5 agosto), ele que desempenha funções de consultor da Open Voice Network, associação que se define como “neutra, sem fins lucrativos”, tendo como objectivo fundamental o “desenvolvimento de directrizes para os padrões e a ética que tornarão a voz um elemento de confiança para os consumidores.”
Não tenho nenhuma razão para duvidar da seriedade da Open Voice Network, muito menos das competências do articulista e do rol de colaboradores que a instituição apresenta no seu site. Aliás, na melhor tradição anglo-saxónica da informação jornalística, Buckley está longe de reduzir a sua exposição a um banal panfleto “moral”, dando também a conhecer a tecnologia da voz (“voice technology”) na sua dimensão de gigantesca economia global.
As estatísticas americanas são elucidativas. Assim, entre 2018 e 2020, o número de pessoas com “assistentes de voz” nos smartphones cresceu 23%. Por sua vez, em janeiro de 2021, os dispositivos caseiros accionados pela voz ultrapassaram os 90 milhões de unidades, envolvendo um terço da população adulta dos EUA. Com uma crescente aplicação no consumo dos chamados conteúdos audiovisuais (notícias, filmes, séries, etc.), os negócios da tecnologia de voz deverão valer, em 2023, qualquer coisa como 80 mil milhões de dólares (contas redondas, ao câmbio actual: 68 mil milhões de euros).
Para já, a Amazon Alexa será o mais conhecido “assistente de voz” ou, de acordo com a gíria comercial, “assistente virtual”. A sua promoção sugere mesmo a possibilidade de integração nas mais variadas tarefas quotidianas, a ponto de o respectivo site oficial proporcionar um “curso de design de voz” com qualquer coisa que, à falta de melhor, poderemos classificar como nova iniciação ao canto coral: “(…) você aprenderá a criar experiências de voz naturais e enriquecedoras”.
Naturais? Enfim, não será difícil imaginar as possíveis vantagens práticas de um “assistente de voz” em situações muito variadas, da manipulação dos mais complexos artefactos da investigação científica até às situações de pura intimidade (por exemplo, nas lides com as máquinas caseiras por alguém que possua determinadas limitações físicas). Acontece que, mais do que nunca, importa lembrar que a natureza nunca é… natural. Ou melhor: aquilo que designamos como naturalidade dos comportamentos é sempre social e conjuntural, numa palavra, cultural.
O cinema, quase sempre secundarizado nas reflexões sociais e políticas sobre os nossos modos de viver (e morrer), possui uma nobre antologia de títulos que lidam com a “naturalização” da tecnologia e os seus efeitos dramáticos nas nossas vidas. Será preciso recordar as atribulações físicas e metafísicas provocadas pelo computador HAL 9000 em 2001: Odisseia no Espaço (1968), de Stanley Kubrick? Penso, em particular, num filme mais recente, Her - Uma História de Amor (2013), de Spike Jonze, em que, numa paisagem futurista, mas contemporânea (Xangai dos nossos dias), Joaquin Phoenix se transfigura através da relação — entenda-se: relação falada — com o seu computador (aliás, “sistema operativo”) que se exprime com a voz de Scarlett Johansson [video].
A indiferença quotidiana aos poderes da tecnologia e a estreiteza do pensamento social sobre tais perplexidades são tanto maiores quanto há um vício (des)informativo que tende a condensar tudo numa dicotomia pueril: “pró” ou “contra” as máquinas… Como se se tratasse de reencontrar um ilusório paraíso perdido, pré-Revolução Industrial.
Estamos, afinal, a ser mobilizados para um novo sistema cognitivo que elege o “diálogo” com entidades virtuais como uma experiência “enriquecedora”. No limite, comprometemos a qualidade humana da nossa literacia, participando na decomposição de um sistema de percepção do mundo enraizado na escrita e na leitura.