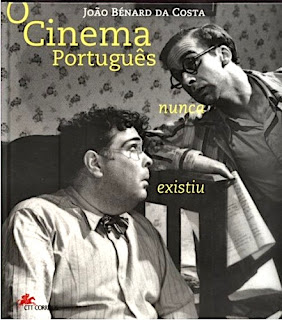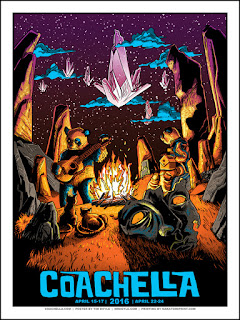|
| ALEC SOTH / Magnum Bogotá, Colômbia 2003 |
quarta-feira, março 31, 2021
segunda-feira, março 29, 2021
Diana
— a princesa do povo televisivo [1/4]
 |
| Emma Corrin, The Crown |
Ao ganhar um Globo de Ouro pelo seu papel na série The Crown, Emma Corrin entrou na galeria de actrizes cuja carreira ficará para sempre marcada pela interpretação da Princesa Diana: a dimensão mítica da personagem envolve um desafio artístico e simbólico — este texto foi publicado no Diário de Notícias (6 março).
Ao receber um Globo de Ouro, atribuído pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, consagrando a sua interpretação da Princesa Diana na quarta temporada da série The Crown, Emma Corrin agradeceu… à Princesa Diana. Segundo as palavras da actriz inglesa de 25 anos (tinha cerca de um ano e meio quando, em 1997, ocorreu o acidente fatal que vitimou Diana), a sua personagem ensinou-lhe “compaixão e empatia para lá de qualquer medida que pudesse imaginar.”
Corrin reconhecia, assim, que a herança de Diana, sendo histórica, é sobretudo de natureza mitológica. A partir de agora, para o melhor ou para o pior, a sua carreira de actriz vai existir marcada por essa componente “transcendental” que faz com que a personagem se aproprie da sua intérprete, sobretudo quando, como é o caso, ainda não possui uma filmografia (cinematográfica ou televisiva) que lhe confira uma identidade artística acima destas atribulações de “casting”.
Em paralelo com o seu trabalho em The Crown, Corrin compôs uma personagem também com curiosas ressonâncias simbólicas… mas as notícias quase não recordaram essa performance. Foi, aliás, a sua estreia em cinema, no filme Misbehaviour (2020) entre nós lançado como Mulheres ao Poder. O seu tema: o concurso de Miss Mundo de 1970, realizado em Londres. Combinando ironia e militância, o filme, realizado por Philippa Lowthorpe, evoca o modo como o evento ficou marcado pelos protestos organizados por um grupo de activistas do recém formado Movimento de Libertação das Mulheres; tentando atenuar as controvérsias que antecederam o espectáculo, envolvendo em particular a denúncia do apartheid na África do Sul, a organização promoveu mesmo a inscrição de duas representantes desse país, uma branca, outra negra… A concorrente branca era interpretada por Emma Corrin.
domingo, março 28, 2021
Cinema & psicanálise — um blog
Cinema e psicanálise.
Cinema "sobre" psicanálise?
Psicanálise para "explicar" os filmes?
Talvez um pouco de uma coisa e outra, mas apenas como adendas. O essencial envolve a ideia de que cinema e psicanálise podem pensar, e pensar-se, em conjunto. Mais do que isso: dir-se-ia que no seu trabalho de muitos paralelismos e cruzamentos, encontramos as marcas cronologicamente remotas, mas simbolicamente próximas, de convulsões que marcaram a transição dos séculos XIX/XX, desafiando o ser humano a repensar de forma radical o seu lugar no mundo — e, nessa medida, a sua relação com o outro.
O blog 'Cinema & Psicanálise', de Ana Belchior Melícias & Elsa Couchinho, nasce de tais cumplicidades, do desejo de conhecer que envolvem e promovem. As autoras são psicanalistas da Sociedade Portuguesa de Psicanálise e da International Psychoanalytical Association, psicanalistas da Criança e do Adolescente, formadoras do Instituto de Psicanálise e apresentam uma proposta que vale a pena seguir: escrever sobre filmes celebrando a ancestral aliança entre "saber" e "sabor".
>>> Move-nos a paixão pela Psicanálise, esse espaço infinito e criativo de indagação e descoberta das motivações inconscientes. Em cada gesto. Em cada produção humana.
Na tela cinematográfica mergulhamos num plano tantas vezes próximo do onírico e emergimos sustentados pelo insight que o pensar psicanalítico permite.
Entre atmosferas, ritmos, paisagens, personagens e histórias, deixamo-nos tocar para que passem a fazer parte de nós, do nosso imaginário, enriquecendo narrativas, permitindo novas rêveries. Afinal, saber vem de sabor, assim como o pensamento advém da emocionalidade.
Este blog é um espaço intermediário, nem de cinema, nem de psicanálise, mas do diálogo e da articulação plástica entre cinema e psicanálise...
Tune-Yards, ritmo e vertigem
O duo californiano Tune-Yards (tUnE-yArDs, se quisermos ser perfeccionistas), está de volta com o álbum que tinha sido anunciado por Hold Yourself. É o quinto registo de estúdio de Merrill Garbus e Nate Brenner, depurando a sua paleta rítmica na procura de uma vertigem admiravelmente consolidada no teledisco de hypnotized — realizado por Tee Ken Ng, aqui está aquela que é, desde já, uma das obras-primas de 2021.
sábado, março 27, 2021
António Silva, o português suave [2/3]
Foi homem de teatro e pioneiro da televisão, mas é na memória da comédia cinematográfica “à portuguesa” que a sua imagem persiste como fundamental referência artística e afectiva: 50 anos depois do seu falecimento, lembramos o actor António Silva — este texto foi publicado no Diário de Notícias (27 fevereiro). |
[ 1 ]
Filmes como O Leão da Estrela não foram necessariamente os vertiginosos sucessos com que alguma demagogia cultural tenta, por vezes, caracterizar a “idade de ouro” da produção portuguesa, alimentado a ideia, esteticamente simplista e economicamente cega, de que basta “repetir” as suas fórmulas para devolver ao cinema português o seu alienado paraíso financeiro.
Essa ilusão foi pedagogicamente desmontada por João Bénard da Costa num livro cujo título sarcástico, O Cinema Português Nunca Existiu (ed. CTT, 1996), resume a necessidade de encararmos tal passado com algum pragmatismo. Lembrando o período dessa suposta “idade de ouro” (1931-1954), refere a crença obstinada segundo a qual os filmes portugueses seriam, por essa altura, “a árvore das patacas”; e lança a sua evocação através de um esclarecedor aviso prévio: “Nada mais falso.”
O que, entenda-se, não invalida o reconhecimento desses mesmos filmes como elementos de uma sedutora nostalgia cinéfila, também ela suave e calorosa, reveladora de duas meritórias virtudes comunicacionais. Desde logo, a existência de um colectivo de actores com competências decorrentes de uma importante formação teatral, muitos deles de popularidade granjeada nos palcos do teatro de revista; em O Leão da Estrela, por exemplo, para lá da também admirável Laura Alves, encontramos ainda Milú, Maria Eugénia, Maria Olguim, Óscar Acúrcio, Fernando Curado Ribeiro e Erico Braga (intérprete do rival, adepto do Porto). Depois, a capacidade de integrar elementos da actualidade social, discretamente realistas, muitas vezes trabalhados em forma de caricatura.
A esse propósito, vale a pena recordar que o entusiasmo de Anastácio pelo seu clube decorre de um contexto desportivo em que o Sporting, com os lendários Cinco Violinos — Jesus Correia, Vasques, Peyroteo, Travassos e Albano —, se impôs como equipa de espectacular eficácia atacante. Em 1947, ano da estreia de O Leão da Estrela, o Sporting ganhou o campeonato nacional (feito que repetiu nas duas épocas seguintes), marcando 123 golos em 26 jogos (era uma prova para 14 equipas), 43 dos quais com assinatura de Peyroteo.
1947 foi também o ano de lançamento de Capas Negras e Fado, História de uma Cantadeira, dois filmes fundamentais na consolidação de Amália Rodrigues como figura mítica do fado. Dir-se-ia que, pelo menos no domínio da ficção cinematográfica, Amália e António Silva (que também participa no segundo destes títulos) existem como rostos complementares, capazes de definir a identidade paradoxal, também mitológica, do ser (ou não ser) português em meados do século XX.
A cantadeira do fado protagoniza uma eterna demanda de felicidade, sempre assombrada pela crueldade de um “destino” castigador; por sua vez, Anastácio triunfa como variação bem disposta de um modo de ser personagem para quem a vida social existe como permanente jogo “teatral” em que cada um experimenta os poderes, e também os inevitáveis limites, da sua condição de classe. Será curioso e, por certo, sintomático referir que a intriga de O Leão da Estrela, a par de outros títulos da época (por exemplo, O Pai Tirano, dirigido por António Lopes Ribeiro em 1941), coloca em cena personagens que, por diversas razões, vivem situações em que simulam uma “nobreza” a que, de facto, não pertencem.
sexta-feira, março 26, 2021
Bertrand Tavernier (1941 - 2021)
 |
| [ Wikipedia ] |
O seu legado tem tanto de artístico como de cinéfilo, conciliando o gosto clássico e o estudo do classicismo: o cineasta francês Bertrand Tavernier faleceu no dia 25 de março em Sainte-Maxime, na região de Var — contava 79 anos.
Se consultarmos o blog que mantinha no site do Instituto Lumière, sugestivamente intitulado DVDblog, poderemos compreender a sua visão do mundo (cinematográfico & humano): uma militante paixão pelas mais variadas formas de classicismo, sempre aberta à diversidade dos géneros e narrativas, sem nunca desvalorizar a importância crucial do trabalho dos actores.
Entre os seus títulos mais emblemáticos podemos citar, por exemplo: O Relojoeiro (1974), porventura uma das adaptações de Georges Simenon mais fiéis ao seu espírito de irrisão; 'Round Midnight/À Volta da Meia Noite (1986), celebração do mundo do jazz com Dexter Gordon como actor principal; e A Princesa de Montpensier (2010), fresco histórico sobre as convulsões da França no século XVI.
Nascido em 1941, a sua visão do cinema francês não foi, de modo algum, a de um "herdeiro" da Nova Vaga, o que, entenda-se, não quer dizer que se tenha definido como "adversário" dos seus autores e filmes. Tavernier assumia-se, afinal, como discípulo de um certo classicismo que incluía autores como Jean Renoir, Jacques Becker ou, na fronteira da Nova Vaga, Jean-Pierre Melville. A sua visão está exemplarmente expressa na sua obra monumental "Viagens pelo Cinema Francês".
>>> Obituário no jornal Le Monde.
quarta-feira, março 24, 2021
Para descobrir Garrett Bradley
Lançado na plataforma Prime Video, Time, de Garrett Bradley, é um filme admirável que está na corrida dos Oscars, com uma nomeação para melhor documentário — uma prodigiosa reflexão & montagem sobre o ser afro-americano, fazendo o retrato de uma mulher que tenta libertar o marido preso, condenado a uma sentença de 60 anos.
Lembremos, para já, apenas alguns factos:
— com Time, Bradley foi a primeira mulher afro-americana a ganhar o prémio de realização, na secção de documentários, do Festival de Sundance.
— o seu filme America (2019), sobre as imagens históricas, ou a história das imagens, de afro-americanos passou no Curtas Vila do Conde.
— em Alone (2017), no mesmo registo didáctico e austero, Bradley tratou o caso de uma mulher que quer casar com um homem que está na prisão: trata-se de uma produção do New York Times, aqui reproduzida.
terça-feira, março 23, 2021
Veneza, memória e esquecimento
— Luchino Visconti
 |
| Björn Andrésen e Dirk Bogarde |
Inspirando-se em Thomas Mann, Luchino Visconti filmou e celebrou a criação da beleza como acto puramente espiritual: Morte em Veneza surgiu há 50 anos — este texto foi publicado no Diário de Notícias (28 fevereiro).
 |
| [ Relógio D'Água ] |
Guardo memórias quentes da sua descoberta e das fascinantes clivagens críticas que o enquadraram. São memórias tanto mais persistentes quanto acompanhei tais clivagens ainda apenas como leitor. O debate de ideias estava longe de se esgotar numa qualquer dicotomia (hoje em dia frequente nas redes pouco “sociais”) entre o “bom” e o “mau”, os “prós” e os “contras”. Dos entusiastas aos reticentes, todos pareciam coincidir no reconhecimento e, num certo sentido, na partilha de uma convulsão muito mais radical porque, no limite, civilizacional: colhendo a herança plural de Mann, Visconti situar-se-ia num ponto em que a arte oscilava entre a celebração redentora da beleza e a rendição a um pessimismo quase suicidário. De um lado, o factor humano como linguagem de um sagrado sem deuses; do outro, o seu metódico desaparecimento como coisa irrisória, sem futuro.
Apesar do seu esquematismo “psicológico”, o clássico retrato tripartido de Visconti ajuda a enquadrar todo esse abalo interior: aristocrata, marxista e homossexual, ele foi, de facto, o admirável criador de uma obra capaz de integrar todas as componentes da sua identidade, sem nunca se encerrar em qualquer determinismo demonstrativo, muito menos panfletário. Talvez se possa considerar que Morte em Veneza é um filme que nos ajuda a ligar a dimensão trágica de Rocco e os seus Irmãos (1960) à cruel secura melodramática do título final, O Intruso (1976), porventura um pouco como podemos ler a narrativa inspiradora de Mann, publicada em 1912, como um breve ensaio ainda tocado pela frieza realista da escrita de Os Bunddenbrook (1901), mais tarde refeita na vertigem trágica de A Montanha Mágica (1924).
Há uma maneira cristalina de dizer tudo isto. Ou, pelo menos, uma palavra cujo poder mágico ilumina e assombra a escrita de Mann, impregnando a visão de Visconti. Essa palavra, Veneza, parece desafiar a “morte” do título, aceitando-a, devorando-a e, por fim, transcendendo-a. Como se Veneza fosse um supremo cenário de vida para reconhecer a inabalável proximidade da morte. A saber: a incurável fragilidade de qualquer ser humano.
É essa a saga de Gustav von Aschenbach, o compositor que contempla os fantasmas de Veneza, lentamente envolvida pela peste, como quem encontra a partitura incompleta da sua biografia. Como se o reencontro com a serenidade de viver fosse um modo de aguardar o chamamento da morte.
Demorei muito a compreender, sem dúvida a sentir, que os maneirismos de Dirk Bogarde na personagem de Ascenbach estão longe de se poder reduzir a um “excesso” de significação imposto pelo narcisismo do actor. Acontece que esse narcisismo começa na personagem: é um gesto de defesa de quem sabe estar a representar uma experiência teatral, tendencialmente solitária, a que não vai sobreviver.
Tadzio (Björn Andresen), o adolescente que Aschenbach devora com o olhar, surge como objecto do seu desejo, sem que seja possível reduzi-lo a um mero signo “erótico”. Nesta perspectiva, a passagem das décadas leva-me a supor que há uma cumplicidade, não apenas temporal, entre Morte em Veneza e O Último Tango em Paris. Lançado no ano seguinte, 1972, também realizado por um italiano, Bernardo Bertolucci, O Último Tango emerge das ilusões libertárias da década anterior, refazendo o mapa das sexualidades: a promessa de um pueril êxtase sem fronteiras desemboca, exausta, no reconhecimento da vulnerabilidade de qualquer utopia humana.
Aschenbach, enfim, existe através da procura obstinada da beleza como matéria ideal do trabalho artístico. Como ele diz ao seu amigo Alfred (Mark Burns), “os artistas são como caçadores, visam no escuro.” Mais do que isso: “Não conhecem o seu alvo e não sabem se o atingiram.” Daí a sua convicção filosófica: “A criação da beleza e da pureza é um acto espiritual.” Escusado será dizer que a maravilhosa insensatez de tudo isto tem dificuldade em sobreviver na vertigem virtual dos nossos ecrãs. Esquecemos Veneza.
>>> Trailer de Morte em Veneza + Venezia [National Geographic].
Jon Batiste, piano & etc.
Em 2020, Jon Batiste compôs a canção We Are para o movimento Black Lives Matter. A sua energia surge agora confirmada (e expandida) num álbum homónimo, através de uma celebração R&B que circula, sem esforço, do gospel à pop. Porventura mais conhecido de todos nós através de The Late Show (CBS), com Stephen Colbert, Jon Batiste prolonga assim a sua versatilidade, do piano ao canto, com a imprescindível contribuição da sua banda, Stay Human. Para lá das canções, atenção a Movement 11', dois minutos de puro piano.
Eis o teledisco de I Need You e os sons de Movement 11'.
Eis o teledisco de I Need You e os sons de Movement 11'.
domingo, março 21, 2021
A IMAGEM: Elliott Erwitt, 1959
 |
| ELLIOTT ERWITT / Magnum Jennifer Erwitt New Rochelle, Nova Iorque 1959 |
sexta-feira, março 19, 2021
António Silva, o português suave [1/3]
 |
| O Leão da Estrela (1947) |
Foi homem de teatro e pioneiro da televisão, mas é na memória da comédia cinematográfica “à portuguesa” que a sua imagem persiste como fundamental referência artística e afectiva: 50 anos depois do seu falecimento, lembramos o actor António Silva — este texto foi publicado no Diário de Notícias (27 fevereiro).
O cinema português, tantas vezes mal conhecido, porque reduzido a clichés sem fundamento, não deixa de ter a sua pequena mitologia popular. Pequena não por qualquer menoridade artística, antes porque sempre lhe faltou a estabilidade duradoura de uma indústria e a consistência económica do respectivo mercado. António Silva é uma das poucas personalidades que há muito conquistou um lugar de eleição nessa mitologia. Agora que se assinala o cinquentenário do seu falecimento (a 3 de março de 1971, contava 84 anos), podemos dizer que o seu nome superou épocas e modas, sendo conhecido e reconhecido como símbolo alegre e contagiante da arte de ser português — uma espécie de português suave.
Recordemos o exemplo modelar de O Leão da Estrela, realização de Arthur Duarte que a Tóbis Portuguesa produziu e lançou em 1947. António Silva interpreta aquela que é, muito provavelmente, a sua mais célebre personagem cinematográfica: o impagável Anastácio, adepto ferrenho do Sporting que anda desesperado para conseguir um bilhetinho de qualquer preço ou qualidade, “de pé, sentado, de cócoras…”, para ir ver o jogo da sua equipa com o Porto, a disputar na casa do rival.
Eram tempos de paixões futebolísticas bem diferentes das que envolvem as análises televisivas dos nossos dias, sob a pedagógica vigilância do VAR. Aliás, O Leão da Estrela inclui a figura emblemática, afinal realista, de Pedro Moutinho, devidamente identificado logo no genérico de abertura como “o locutor da Emissora Nacional”, a interpretar, como se diz, o seu próprio papel… Num tempo em que a televisão não passava de uma risonha utopia (as emissões regulares começariam uma década mais tarde), a vivência social do futebol era, assim, essencialmente radiofónica.
Em 1942, em O Costa do Castelo, também sob a direcção de Arthur Duarte, António Silva protagonizara já uma cena exemplar dedicada ao fenómeno radiofónico. Aí, na pele do enérgico Simplício Costa, apresentava à sua atónita e maravilhada comunidade familiar um instrumento ultra-moderno, coisa que “canta, mas não é canário”, aparelho revolucionário que emite sons e, pormenor importante, não se chama rádio, mas sim… telefonia: “Isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música.” Como o aparelho demora a estabilizar, Simplício apresta-se a esclarecer: “São as bobinas que ainda estão frias.” Mais exactamente: “A onda passa na lâmpada e recua; daí, o som quer sair e não pode… Tem de aquecer o carburador, é o que é!”
quarta-feira, março 17, 2021
Yaphet Kotto (1939 - 2021)
 |
| Blue Collar (1978) |
Nascido em Nova Iorque, Yaphet Kotto faleceu em Manila, Filipinas, no dia 15 de março, sem que tenha sido divulgada a causa da morte — contava 81 anos.
Kotto foi um dos rostos de um dos grandes filmes dos anos 70, infelizmente esquecido, aliás, pouco ou nada divulgado: Blue Collar (1978), primeira realização de Paul Schrader, dois anos depois de ter assinado o argumento de Taxi Driver (1976), para Martin Scorsese — contracenando com Richard Pryor e Harvey Keitel, Kotto interpretava um drama pleno de ressonâncias políticas, com um grupo de operários de uma fábrica de automóveis, em Detroit, a descobrir algumas cumplicidades do seu sindicato com o crime organizado [trailer].
Os seus papéis mais conhecidos aconteceram em "007 - Vive e Deixa Morrer" (1973), de Guy Hamilton, e "Alien - O Oitavo Passageiro" (1979), de Ridley Scott. Em qualquer caso, foi na televisão que Kotto assumiu a sua personagem mais popular, o detective Al Giardello na série "Homicide" (1993-1999), criada por Paul Attanasio.
>>> Obituário em The Hollywood Reporter.
terça-feira, março 16, 2021
Spike Lee, presidente de Cannes
Spike Lee assumirá as funções de presidente do júri da 74ª edição do Festival de Cannes, a realizar entre 6 e 17 de julho. Trata-se, afinal, da renovação de um compromisso, uma vez que o realizador de Da 5 Bloods teria desempenhado a mesma tarefa no festival de 2020 que, devido à pandemia, não se realizou. A confirmação foi registada num breve diálogo com o delegado geral do certame, Thierry Frémaux.
segunda-feira, março 15, 2021
8 títulos nomeados
para o Oscar de melhor filme
Estes são os oito títulos (num máximo possível de dez) que concorrem para o Oscar de melhor filme de 2020 — a lista completa das nomeações pode ser consultada, por exemplo, nas páginas da Variety; o video da apresentação está disponível no site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — e também aqui.
Nomeações para os OSCARS — em directo
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas disponibiliza, em directo, o anúncio das nomeações para os Oscars (que serão entregues em cerimónia agendada para o dia 25 de abril) — aqui está a ligação através do YouTube, a começar às 12h19 (hora portuguesa).
domingo, março 14, 2021
Madonna relança "Frozen" em edição digital
Em fevereiro de 1998, o aparecimento de Frozen era o testemunho de uma nova encarnação musical (também, como sempre, figurativa e simbólica) de Madonna. O single anunciava o álbum Ray of Light e, é caso para dizer, o resto é história... Agora, em edição digital, Madonna relança Frozen num single que quase parece um álbum monotemático (dura um pouco mais de uma hora), já que o tema original surge associado a nada mais nada menos que nove das suas remisturas, incluindo a "Widescreen Mix", uma raridade, e a muito conhecida "Drumapella", de William Orbit, produtor do álbum — em resumo, um clássico redescoberto num fascinante jogo de espelhos.
Aqui fica a faixa de Orbit, bem como o teledisco de Frozen, também ele um objecto clássico, dirigido por Chris Cunningham.
"A Sun"
— ou "a luz do sul ilumina tudo"
 |
| Chien-Ho Wu |
Eis uma bela revelação do streaming: A Son é uma subtil saga familiar que, em representação de Taiwan, se está a destacar na corrida para o Oscar de melhor filme internacional — este texto foi publicado no Diário de Notícias (25 fevereiro), com o título 'As famílias não são todas iguais'.
Continua a saga dos títulos não traduzidos. Agora é a vez de uma produção de Taiwan, disponível em streaming (Netflix), que surge identificada apenas pelo título internacional: A Sun. Não viria grande mal ao mundo se se acrescentasse a tradução literal, “Um sol”, aliás suficientemente austera para ser sugestiva. E não creio que fosse muito difícil procurar a tradução literal do original que, segundo informações disponíveis na página da Wikipedia dedicada ao filme, será “A luz do sol ilumina tudo”.
O problema não envolve qualquer “pureza” intocável da língua. Aliás, repare-se: já não falamos de filmes difundidos por meios digitais… mas de streaming! A integração de palavras e expressões de outras línguas constitui um dos sinais mais rotineiros do mundo realmente global em que vivemos. O problema é de atenção (ou desatenção) aos “conteúdos” que se difundem, a ponto de os baralhar numa homogeneidade promocional que recalca as suas especificidades. Mais do que a identificação artística, está em jogo a valorização comercial!
Exemplo? A Sun, justamente. Acontece que esta realização de Chung Mong-hong integra a lista de 15 títulos que podem chegar às cinco nomeações para o Oscar de melhor filme internacional (ex-melhor filme em língua estrangeira). Salvo erro, não há qualquer referência a tal facto na página do filme online… E talvez seja bom referir que a importância de tal condição não resulta de nenhum “palpite” formulado deste lado do Atlântico. Assim, por exemplo, na sua lista dos “melhores filmes de 2020”, Peter Debruge, do Variety (8 dez.), coloca A Sun em nº 1; por sua vez, na introdução a uma entrevista com Chung Mong-hong, publicada em The Hollywood Reporter (2 fev.), Patrick Brzeski define o filme como o mais inesperado “favorito” ao Óscar de melhor filme internacional.
Enfim, face a um objecto tão rico de contrastes e nuances, não simplifiquemos. A simples tradução do título internacional também nos faria perder uma sugestão muito fácil de perceber (mesmo para quem não viu o filme): a pronúncia de A Sun confunde-se com a sonoridade de “A Son” (“Um filho”), facto que, como refere o realizador na citada entrevista, resultou de uma escolha muito consciente.
Esta é uma história que envolve um sistema de laços familiares em que a relação entre pais e filhos está ferida por um drama difícil de superar. Tentando evitar revelar as muitas peripécias que vão encaminhando A Sun para convulsões tão inesperadas quanto perturbantes, lembremos apenas duas componentes da sua “intriga”. Assim, tudo se desencadeia a partir de um acto violento, exposto de forma contundente na cena de abertura, que faz com que o jovem A-Ho (Chien-Ho Wu) seja condenado a três anos de reclusão numa instituição para jovens delinquentes; a partir daí, o pai, A-Wen (Yi-wen Chen), instrutor veterano de uma escola de condução automóvel, recusa-se mesmo a nomear A-Ho, dizendo que tem apenas “um filho”, referindo-se a A-Hao (Greg Han Su), irmão mais velho de A-Ho que se tem mantido um estudante exemplar…
Há uma lição pedagógica (antes de ser cinematográfica) que vale a pena referir a propósito de A Sun. Aqui está, de facto, uma narrativa que não depende dessa ilusão mediática, frequente em diversas formas de “entretenimento” televisivo, que leva a supor que a família é uma matriz universal que, com ligeiros sobressaltos, se repete de sociedade em sociedade… Ora, o minucioso trabalho de mise en scène de Chung Mong-hong decorre de uma perspectiva bem diferente: sim, é verdade que este é um filme recheado de factos e emoções com que nos podemos relacionar, ainda que tal efeito nasça da metódica exposição de singularidades sociais e culturais que não é possível rasurar.
Nesta perspectiva, é francamente precipitado que, na sua página online, A Sun surja classificado através de dois “géneros”: “filmes taiwaneses” e “filmes chineses”. Para lá da complexidade histórica das relações com a República Popular da China, tais rótulos escamoteiam o facto de existir um cinema de Taiwan com identidade própria e autores tão originais como Hou Hsiao-hsien, Tsai Ming-liang, Edward Yang ou, o mais internacional de todos, Ang Lee.
Chung Mong-hong é também um talentoso director de fotografia, tarefa que, aliás, acumula com a realização de A Sun (assinando com o pseudónimo Nagao Nakashima). Utilizando as hiper-sofisticadas câmaras Arri Alexa, ele dá-nos a ver rostos, corpos e ambientes através de um subtil tratamento de luz e cor que, em última instância, nos projecta num envolvente paradoxo: por um lado, há uma espécie de naturalismo sensual que banha todas as situações, como se um qualquer “destino” impedisse que as coisas acontecessem de outra maneira; por outro lado, gestos, palavras e silêncios vão instalando a sensação de que cada personagem, ao lidar com os segredos dos outros, depara com o seus próprios enigmas.
É especialmente sugestivo que, nas aulas de A-Hao surja uma referência a Sima Guang, escritor e político chinês do século XI. A evocação de uma das suas parábolas condensa, afinal, o tema mais universal de A Sun: cada um existe através de um processo de infinita auto-descoberta, nessa medida podendo compreender também as diferenças dos outros.
A IMAGEM: Timothy A. Clary, 2021
 |
| TIMOTHY A. CLARY New York Times, 14 março 2021 |
sábado, março 13, 2021
A IMAGEM: Nanna Heitmann, 2021
 |
| NANNA HEITMANN Daria Serenko e Sonia Sno no quarto onde dormem e trabalham, em Femdacha Moscovo, Rússia, fevereiro 2021 Magnum |
sexta-feira, março 12, 2021
Godard, 'adeus, cinema'
 |
| Jean-Luc Godard, Atenção à Direita (1987) |
"Estou a acabar a minha vida nos filmes, a minha vida de fazedor de filmes, com dois argumentos e depois direi 'adeus, cinema' " — são palavras de Jean-Luc Godard no meio de uma conversa online com o crítico e professor C. S. Venkiteswaran, por ocasião do prémio honorário que lhe foi atribuído por um certame indiano, o International Film Festival of Kerala (IFFK). Aconteceu por volta dos 58 minutos de gravação, num diálogo de quase hora e meia.
Como num filme: a notícia inscreve no tempo uma verdade simples, não sem atrair a ambiguidade do impossível. Sejamos, por isso, pacientes, inteligentes e não demasiado desencantados: chegará um dia em que já não poderemos esperar pelo próximo filme de Godard. O que, em todo o caso, tal como Jean-Paul Belmondo em À Bout de Souffle (1959), não nos impede de, perante os jovens, preferir os velhos...
terça-feira, março 09, 2021
8 canções de Nick Cave & Warren Ellis
 |
| Warren + Nick [Clash] |
Nick Cave & Warren Ellis são companheiros de muitas aventuras. Em grupo, claro: Nick Cave and the Bad Seeds. Mas também em dueto, compondo algumas músicas admiráveis para filmes como O Assassínio de Jesse James pelo Cobarde Robert Ford (Andrew Dominik, 2007) ou Hell or High Water - Custe o Que Custar! (David Mackenzie, 2016). Reencontramo-los, agora, a assinar Carnage, a sua primeira colecção de canções (para já, disponível em streaming; vinyl e CD a 28 de maio).
São oito temas que, de facto, podem ser descritos como elementos de uma banda sonora imaginária, intimista, plena de contrastes, ao mesmo tempo desenhando o mapa de um contido desencanto face às convulsões da natureza humana e à miragem de uma transcendência sem nome. Este White Elephant, por certo uma das grandes canções de 2021, é o tema central do álbum, a meio caminho entre "tradição" e "vanguarda", em última análise celebrando uma glória que dispensa rótulos de qualquer espécie.
segunda-feira, março 08, 2021
Scorsese, Fincher, Netflix & etc.
 |
| Pierluigi Longo [Harper's Magazine] |
Num artigo de opinião sobre o seu mestre Federico Fellini, Martin Scorsese propõe uma reflexão pedagógica sobre a vida dos filmes na era do streaming: o cinema não é (não pode ser) uma mera questão de “conteúdos” — este texto foi publicado no Diário de Notícias (21 fevereiro).
Na edição de março da Harper’s Magazine, surge um artigo de Martin Scorsese que tem tido significativo impacto nos meios cinematográficos, a começar, naturalmente, pelos EUA. O título, “Il Maestro”, refere-se a Fellini, um dos autores mais amados na trajectória de Scorsese, decisivo na definição da sua vocação. O subtítulo é desencantado: “Federico Fellini e a magia perdida do cinema”.
Para lá da celebração da herança de Fellini, o autor de Taxi Driver, A Última Tentação de Cristo e O Lobo de Wall Street vem dar conta, com gélida lucidez, do estado das coisas: passámos da era da cinefilia ao mercado dos “conteúdos”. A cultura comunitária ligada ao conhecimento dos filmes nas salas escuras deu origem ao consumo anónimo das plataformas de streaming em que os filmes… já não são filmes, apenas “produtos” expostos em prateleiras mais ou menos vistosas, à maneira de um supermercado.
Evitemos atrair o simplismo dos discursos panfletários. Scorsese não vem apontar o streaming como o “mal” que importa expurgar, lembrando, aliás, que as plataformas criaram uma conjuntura que também é “boa para os cineastas, eu incluído”. E tem razões para isso: depois de mais de uma década de recusas dos estúdios clássicos de Hollywood, só conseguiu concretizar esse filme prodigioso que é O Irlandês graças ao valor descomunal (160 milhões de dólares) que a Netflix investiu no projecto.
O que está em jogo é algo que, em boa verdade, envolve temas e problemas que alguma crítica de cinema (nos EUA e não só) tem vindo a escalpelizar há pelo menos duas décadas, desde que os super-heróis passaram a ser o “conteúdo” privilegiado pelas estruturas tradicionais de Hollywood, com efeitos muito directos na dinâmica da maior parte dos mercados nacionais. A saber: o crescente desinteresse, para não dizer brutal menosprezo, com que algumas grandes entidades, directa ou indirectamente ligadas à distribuição/exibição, passaram a lidar com a memória dos filmes e, genericamente, o património cinematográfico.
A linguagem de Scorsese pouco ou nada tem que ver com a secura muito cordial da maior parte dos pontos de vista expressos deste lado do Atlântico. A banalização social e comercial da palavra “conteúdo” leva-o mesmo a denunciar o triunfo de uma forma específica de ignorância, em tudo e por tudo, com ele sublinha, alheia às apaixonadas discussões clássicas sobre a dialéctica “forma/conteúdo”. Assim, diz ele, essa palavra “passou a ser cada vez mais aplicada por pessoas que tomaram conta das companhias de media, muitas das quais nada sabiam sobre a história desta forma de arte, nem sequer se preocupavam o suficiente para pensar que talvez devessem saber.” E sublinha o facto de a palavra “conteúdo” se ter tornado um “termo dos negócios para todas as imagens em movimento: um filme de David Lean, um video de um gato, um anúncio do Super Bowl, uma sequela de um super-herói, um episódio de uma série.”
Scorsese não vem instaurar uma “caça às bruxas”, antes lembrar que de Aurora (Murnau) a 2001 (Kubrick), o cinema é “um dos grandes tesouros da nossa cultura” e, por isso, “como tal deve ser tratado”. Paradoxalmente ou não, vamos lendo, com inusitada frequência, notícias sobre acordos de produção que os mais diversos cineastas estão a estabelecer com plataformas de streaming (Netflix, Amazon, HBO, etc.). E não é caso para menos: muitos deles conseguem encontrar aí a liberdade criativa — e a disponibilidade financeira, como é óbvio — para concretizar projectos que, na maior parte dos casos, deixaram de encontrar lugar nos planos de produção de um universo que, da produção à difusão, se tem vindo a encerrar na expectativa do próximo “blockbuster” com super-heróis…
Recorde-se, a propósito, o caso modelar de Mank, o filme de David Fincher sobre Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman), revisitando as memórias da escrita do argumento desse clássico dos clássicos que é Citizen Kane/O Mundo a seus Pés (1941), de Orson Welles. Raras vezes a relação criativa com a memória do próprio cinema foi tão depurada e cristalina. Que tudo isso aconteça com chancela da Netflix não é um erro do “sistema”, tão só um dado objectivo que não pode ser ignorado.
domingo, março 07, 2021
Festival da Canção 2021
— elogio da pluralidade
O Festival da Canção [RTP] terminou com a vitória de Love Is on My Side, tema em inglês por The Black Mamba [video]. Ter-se-á, assim, esperemos que definitivamente, superado o velho preconceito nacionalista segundo o qual só há expressão "nacional" quando se canta em português...
Na verdade, com o espaço mediático saturado de referências à globalização em que vivemos, reconhecer que não há línguas "puras" ou "impuras" é um dado — de uma só vez cultural e simbólico — que, hoje em dia, de uma maneira ou de outra, importa integrar.
Algo de semelhante se poderá dizer a propósito das diversas figuras homenageadas durante o espectáculo: José Afonso, José Mário Branco e Carlos do Carmo.
Não há, de facto, música portuguesa "séria" (para ser ouvida em momentos de obrigatória gravidade) que se deva opor à música portuguesa "ligeira" (adequada a contextos de obrigatória frivolidade). Há música — ponto final. Suscitando juízos de valor diferentes, por vezes francamente desencontrados? Sim, sem dúvida. Qual é o problema?
Neste domínio — como, por exemplo, no espaço específico do cinema português —, importa relembrar o mais elementar. A saber: não se trata de escolher, muito menos promover, uma "tendência" contra outra, na certeza de que a homogeneidade de gostos e ideias é sempre redutora, para não dizer suspeita. Trata-se, isso sim, de criar condições que favoreçam a maior abertura possível para o trabalho de todos, seja qual for o seu domínio de expressão. Nesta perspectiva, o Festival da RTP relançou, implicitamente, uma reflexão sobre a pluralidade que só pode enriquecer o espaço televisivo.
sábado, março 06, 2021
"Baby Says", The Kills ["The Guardian"]
Depois de uma performance em televisão, depois de uma passagem por Coachella, eis Alison Mosshart e Jamie Hince, mais uma vez, com Baby Says — The Kills, em 2011, nas instalações do jornal The Guardian.
sexta-feira, março 05, 2021
"Baby Says", The Kills [Coachella, 2016]
The Kills, outra vez. Baby Says, mais uma vez. Agora na edição de 2016 do festival de Coachella: Baby says / She's dying to meet you / Take you off and make your blood hum / And tremble like the fairground lights — & etc.
quinta-feira, março 04, 2021
Ólafur Arnalds — um concerto islandês
Por certo um dos registos mais encantados, e encantatórios, de 2020, some kind of peace (em minúsculas) é uma concretização exemplar da visão artística do islandês Ólafur Arnalds (n. 1986): uma música liderada pelo seu piano, acompanhada por cordas e integrando, com invulgar subtileza, loops, algoritmos e outras inusitadas manipulações. Arnalds e os seus músicos foram protagonistas de mais um 'Tiny Desk (Home) Concert', da NPR, gravado em Reykjavík, no antigo estúdio dos Sigur Rós. Abrindo com Happiness Does Not Wait, incluindo depois três temas de some kind of peace, eis 15 minutos de um contagiante teatro de intimidades.
St. Vincent, 2021
Annie Clark de cabelos loiros. É um pormenor. Ou talvez não. Objectivamente, tanto quanto estas coisas podem mascarar as subjectividades: St. Vincent tem um álbum novo, Daddy's Home, a ser lançado no dia 14 de maio. Começou a ser promovido com um breve e sedutor video, sendo agora divulgada a primeira canção, Pay Your Way in Pain. Canção do ano? Prince? Seja como for, a aristocracia pop ainda é o que era.
quarta-feira, março 03, 2021
"Let it Be", por Matt Berninger
Serpentine Prison, primeiro álbum a solo de Matt Berninger, vocalista de The National, vai ter uma edição DeLuxe (12 março), com algumas canções novas. Uma delas intitula-se Let it Be — não essa... sem ofensa para os rapazes de Liverpool, vale mesmo a pena ouvir.
Some things I cannot hide
No matter how hard I try
Some things I can't even see
You say to me, "Let it go
Hey, lighten up a little, take a joke"
Sometimes I can't let it be
Sometimes I think that I'm
My own worst enemy
Tell me the truth what you say
It won't bother me either way
Just tell me what you say about me
I don't wanna know, doesn't matter now
Leave it alone, try to forget about it
Sometimes I can't let it be
Sometimes I think that I'm
My own worst enemy
Sometimes I can't let it be
One day you'll have to let me
Take you back to the place you met me
Three Jacks and gingers later
We waited for the sun to rise
Five o'clock in the morning
16 billion feet above the ground
Sometimes I think that I'm
My own worst enemy
Sometimes I can't let it be
Sometimes I can't take it
Told me you'd never break it
Sometimes I can't take it
Sometimes I can't let it be
terça-feira, março 02, 2021
"Berlim - A Sinfonia de uma Capital"
— com música de Craig Michael Davis
Berlin - Die Sinfonie der Großstadt (1927), de Walter Ruttmann, habitualmente identificado em português como Berlim - A Sinfonia de uma Capital, é um daqueles clássicos que, em tempos remotos, abriu uma espantosa multiplicidade de hipóteses para o chamado registo documental — Manoel de Oliveira, por exemplo, citava-o como inspiração muito directa para o seu Douro, Faina Fluvial (1932).
Há neste retrato de Berlim uma musicalidade do olhar e da montagem que, de facto, apela... à música. De tal modo que, ao longo das décadas, a sua projecção tem sido acompanhada pelas mais variadas partituras. Em 2017, o pianista, compositor e maestro americano Craig Michael Davis apresentou a sua versão para as imagens de Ruttmann, numa performance disponível no YouTube — para redescobrir um clássico, sempre moderno.
segunda-feira, março 01, 2021
Globos de Ouro & etc.
Quem ganhou os Globos de Ouro da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood? Lembremos apenas os dois principais vencedores:
* Melhor filme drama: NOMADLAND.
* Melhor filme musical/comédia: BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM.
> lista integral de vencedores no site da HFPA.
E agora?... Como preservar a lógica destas cerimónias num mundo compulsivamente online? A apresentação de Tina Fey e Amy Poehler (a primeira em Nova Iorque, a segunda em Los Angeles) teve qualquer coisa de festivo e desesperado [video]. Deixando uma perversa, mas didáctica, interrogação: será que a sua performance, esforçada e talentosa, corresponde ao canto do cisne de um modelo que o mundo virtual não consegue sustentar? Afinal de contas, numa das promoções do evento, Fey proclamava: "Se jogarmos bem os nossos trunfos, este poderá ser a última cerimónia de prémios de sempre!"
Subscrever:
Mensagens (Atom)