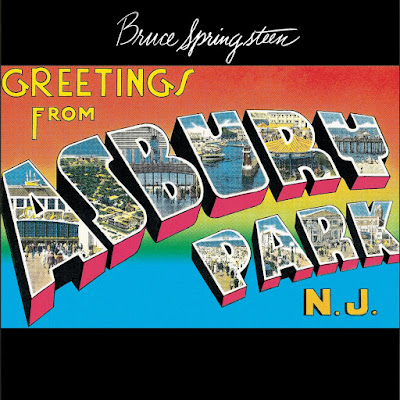|
| Sweet Exorcist (2012) |
Como aniquilar a crítica de cinema em Portugal? A pergunta é também uma forma de desporto cultural — este texto foi publicado no Diário de Notícias (8 janeiro).
Não me é possível falar sobre a obra do cineasta português Pedro Costa a partir de um ponto de vista neutro, distante ou desapaixonado. Primeiro, porque o considero um dos grandes autores do cinema contemporâneo; depois, porque, profissionalmente, já estive envolvido com o seu trabalho quando, como responsável pela programação da área de cinema de Guimarães 2012-Capital Europeia da Cultura, o convidei para realizar um dos segmentos, intitulado
Sweet Exorcist, que integraram a longa-metragem
Centro Histórico (a par de Manoel de Oliveira, Víctor Erice e Aki Kaurismäki).
Há dias, consultando o Instagram da
Optec Filmes, empresa produtora de grande parte da filmografia de Pedro Costa, deparei com uma citação sua — “Só sei que os filmes deviam testemunhar sempre da razão da sua existência e da sua necessidade.” —, remetendo para uma entrevista cujo texto integral se encontraria no Facebook da mesma produtora. Embora não esteja inscrito no Facebook, verifiquei que a entrevista pode ser lida num post aberto: foi feita por Catarina Brites Soares, estando publicada no site do
Expresso com data de 4 de janeiro (mesmo não dominando os modos de informação no Facebook, creio que o post não refere o jornal).

A certa altura, a entrevistadora pergunta: “Sente que o seu trabalho é valorizado em Portugal, como sucede em França, Espanha e noutros países?” Transcrevo na íntegra a resposta de Pedro Costa: “Preferia responder de uma maneira mais materialista: não é raro que alguns dos chamados filmes comerciais portugueses façam seis ou sete mil espectadores em 60 ou 70 salas do país. Seis mil em 60 cinemas. É verdade que pouca gente pode ver os meus filmes nas salas portuguesas. Estreiam em três ou quatro. Rondam os cinco mil espectadores. Portanto, é só fazer as contas. Gostava de saber o que aconteceria se pudesse entrar nessas salas, quem sabe se não haveria uma surpresa. E podia estar a falar de outros filmes e de outros realizadores. Mas ninguém se apoquenta, nem os financiadores públicos, nem os distribuidores, nem a crítica. Dizem que não há público. Justamente, era preciso que a crítica não apresentasse estes filmes como umas bizarrias, que não lhes chamasse espectrais e elitistas, entre outras coisas. Mas enfim, se quiser ler um texto interessante sobre um filme, não é nos jornais portugueses que o vai encontrar.”
As observações de Pedro Costa sobre o funcionamento e, em particular, os desequilíbrios estruturais do mercado português interessam-me muito. Melhor ou pior, por certo de forma sempre discutível, há quase meio século que escrevo sobre tais problemas e, em particular, sobre aquilo que considero os modos equívocos e inoperantes com que as práticas dominantes nesse mercado tendem a fragilizar toda (repito: toda) a produção cinematográfica portuguesa. Sem esquecer que não é possível pensar tudo isso recalcando os nossos endémicos défices educacionais para o cinema (e todos os domínios artísticos) que, a meu ver, e apesar das excepções individuais, continuam a suscitar a obscena indiferença da nossa classe política, direitas e esquerdas confundidas.
Aliás, o próprio Pedro Costa tem-me ajudado a reflectir sobre tais questões. Citando-o: “Vivemos num país a sofrer o embate da televisão e desse verdadeiro electrochoque a que deram o nome de ‘ficção portuguesa’. Vai-se muito pouco ao cinema. Vai-se, sobretudo, de forma muito distraída, porque se vai jantar ao centro comercial. Poucas pessoas vão ver um filme por, realmente, quererem ver esse filme” (são palavras de uma entrevista por mim conduzida, publicada no
Diário de Notícias, a 26 de novembro de 2006).
Algo mudou. E não posso esconder o choque resultante do facto de, agora, Pedro Costa reproduzir a mediocridade argumentativa de um velho desporto cultural, descrevendo a crítica de cinema como um rebanho de gente suspeita que se limita a proferir generalizações estúpidas (como as que ele refere), a ponto de, “nos jornais portugueses”, não ser possível encontrar “um texto interessante sobre um filme”.
Não serei eu a subscrever qualquer visão redentora, muito menos triunfalista, de todas as formas de jornalismo que se fazem em Portugal. Interessante seria, por exemplo, avaliar a futilidade jornalística de alguma crítica de cinema, em parte gerada pela demagógica “liberalização” favorecida pelas ambiguidades democráticas da internet. Mas Pedro Costa não mostra qualquer disponibilidade para pensar a complexidade estrutural, educativa e financeira de tudo isso, até porque avança com mais generalizações: “A colonização norte-americana está consumada, os intelectuais portugueses especulam sobre as séries da moda, o Roth e o Rothko, e gabam-se de nunca terem visto um filme do Manoel de Oliveira.”
Sou praticante desse pecado pró-americano, incluindo em relação a algum cinema que exibe a chancela de Hollywood. Além do mais, Roth e Rothko não me deixam indiferente — atrevo-me até a pensar que a sua grandeza criativa os coloca na companhia de Pedro Costa. O que me desconcerta é que Pedro Costa varra assim da memória jornalística e cinéfila a avalanche de abordagens da sua obra escritas em Portugal, a começar pelas apoteóticas formas de consagração (em que não me reconheço, é verdade) que encontrou com as suas duas primeiras longas-metragens,
O Sangue (1994) e
Casa de Lava (1997).
Muito a propósito, consulte-se no site da Optec Filmes o manancial de abordagens críticas a
Vitalina Varela (2019), a mais recente longa-metragem de Pedro Costa. Não é fácil, reconheço, já que o site privilegia alguns textos não portugueses (“International reviews”), destacando os logotipos de quase duas dezenas de publicações, incluindo
The New York Times,
The Guardian e a revista
Sight & Sound. O certo é que, procurando um pouco, podemos encontrar links das mais diversas origens (“World wide clipping”), deparando com
182 publicações portuguesas, entre jornais, televisão, rádio e internet, dedicadas a Vitalina Varela (já agora: seis têm a minha assinatura).
Ficamos a saber que 182 vezes não bastam a Pedro Costa para encontrar “um texto interessante”. Está no seu direito. E esta observação não contém ironia: assim como as intenções do criador são indiferentes a qualquer abordagem crítica (é a obra que conta), assim também a rejeição dessa abordagem pelo próprio criador envolve um raro misto de desafio, coragem e solidão que me merece todo o respeito.
O que me entristece é o modo como a ligeireza das palavras de Pedro Costa, ainda que inadvertidamente, vem alimentar os discursos mais cínicos, e também mais destrutivos, que sempre acompanharam o cinema que se faz em Portugal. Como se, desse modo, no aconchego do esplendor universal do seu trabalho, a legítima revolta das suas palavras tivesse sido contaminada por um simplismo ideológico e, sobretudo, um moralismo vingativo que não fazem justiça ao sublime furor de filmes como Ossos (1997), Juventude em Marcha (2006) ou o já citado Vitalina Varela. Até porque acredito piamente que tais filmes são tão fortes e tão genuínos que não precisam dos críticos para nada — basta a sua existência e a sua necessidade.