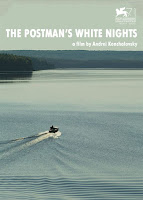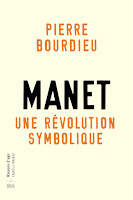|
| Oscar Isaac, The Card Counter |
A partir do retrato de um jogador de casinos, Paul Schrader faz um filme admirável sobre uma América assombrada pelas suas memórias, ao mesmo tempo expondo as qualidades desse admirável actor que é Oscar Isaac — este texto foi publicado no Diário de Notícias (18 novembro).
Geometria. Eis uma palavra que convém ao universo do argumentista e realizador Paul Schrader. O seu novo filme, The Card Counter: O Jogador, aí está como mais um capítulo admirável na sua saga artística de meio século.
Muita coisa mudou desde os tempos em que Schrader, estudioso dos filmes e da história do cinema (nascido em 1946 em Grand Rapids, Michigan) publicou o seu livro sobre aquilo que chamou “cinema transcendental”. Foi em 1972 que surgiu Transcendental Style in Film, ensaio sobre três cineastas indissociáveis da sua formação como espectador: o japonês Yasujiro Ozu, o francês Robert Bresson e o dinamarquês Carl Th. Dreyer. Desde muito cedo, Schrader trabalhou essa ideia de uma geometria feita de gestos e palavras, desejos e fantasmas, cujo ponto de fuga é a ideia de transcendência e, nessa medida, a existência de uma dimensão sagrada da natureza humana.
Semelhante visão encontraria a sua mais célebre configuração num filme que todos conhecemos e a propósito do qual, injustamente, raras vezes se cita o nome de Schrader: Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese. Assinado por Schrader, o argumento do filme não só coloca em cena uma singularíssima personagem em demanda de qualquer coisa de sagrado na sua degradada existência — o motorista de taxi Travis Bickle, provavelmente o papel mais célebre de Robert De Niro —, como se tornou um modelo de referência para a arte de escrever para cinema.
De geometria poderemos falar a propósito de The Card Counter, desde logo por razões eminentemente físicas: tudo se passa em cenários de linhas austeras — sejam os típicos motéis, sejam os ruidosos corredores das salas de jogo —, verdadeiros emblemas culturais de um certo imaginário “made in USA”. A personagem central, William Tillich, é uma figura esquiva que vive dos ganhos que vai obtendo como jogador de poker. A sua existência faz-se de uma errância sem destino, entre cidades e respectivos casinos, sem se prender a nenhum lugar e, mais do que isso, aplicando a sua sofisticação na mesa de jogo sem procurar ganhos excessivos — não atrair as atenções é, para ele, uma regra de ouro.
Em boa verdade, talvez fosse mais adequado falarmos de matemática e não apenas de geometria. Isto porque esta é também uma saga aritmética: como diz o título original, Tillich é um “contador de cartas”, quer dizer, alguém que apurou a capacidade de contar mentalmente as cartas que vão saindo, a ponto de ter um controle quase absoluto sobre as hipóteses de ganho que o jogo vai gerando. Onde é que ele apurou os seus dotes? Na prisão, durante os oito anos de pena que cumpriu, enquanto militar, por ter sido considerado cúmplice das torturas de prisioneiros consumadas na prisão de Abu Ghraib, no Iraque.
Tal como o sacerdote do filme de Schrader protagonizado por Ethan Hawke (No Coração da Escuridão, 2017), Tillich anda à procura da sua própria redenção. Talvez por isso, evita usar o seu apelido, identificando-se como William Tell, dir-se-ia que à procura de algum resgate simbólico na própria lenda de heroísmo transportada por tal nome (Guilherme Tell). Até que surge o jovem Cirk (Tye Sheridan), envolvendo-o num labirinto cuja violência provém em linha directa das memórias de Abu Ghraib…
Se outras razões não houvesse para celebrar as delicadas subtilezas do filme de Schrader, a composição do “contador de cartas” por Oscar Isaac seria suficiente para lhe conferir um lugar muito especial na actualidade do cinema americano. Primeiro, porque no universo de Star Wars (na personagem de Poe Dameron) ele é um dos muitos actores reduzido a triste marioneta dos efeitos especiais; depois, porque Isaac possui esse misto de transparência e mistério que fez a imagem de marca de grandes referências populares de Hollywood, de Humphrey Bogart a Richard Gere (que Schrader filmou em 1980, no magnífico American Gigolo).
Trata-se, afinal, de representar na corda bamba dramática que liga corpo e alma. Como Tillich explica a Cirk, todas as formas de relação dos jogadores de poker com as cartas são elementos corporais que, com método e obsessão, ele aprendeu a identificar e decifrar. Ao mesmo tempo, o corpo está, ou pode estar, contaminado por um desejo de transcendência que, nem que seja por incontornável herança cultural, nos confronta com a hipótese da alma. Daí que The Card Counter seja também um retrato íntimo de uma identidade americana, pós-Abu Ghraib, ainda e sempre a contas com os seus recalcamentos e fantasmas.
Nesta teia de factos crus, afectos suspensos e silêncios assombrados circula uma personagem feminina, La Linda (Tiffany Haddish), que relança a própria ideia de redenção como miragem primitiva do amor. O encontro de La Linda e Tell na derradeira cena do filme levará, por certo, alguns espectadores a reconhecer uma recriação do final de American Gigolo, com Richard Gere e Lauren Hutton — importa apenas não esquecer que tal cena era uma citação do final de Pickpocket (1959), de Robert Bresson.