 Numa adaptação muito livre de L'Aigle à Deux Têtes, de Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni dirigiu, em 1981, o filme O Mistério de Oberwald. Monica Vitti surgia na teia de um romantismo austero, quase cruel, austeridade e crueldade agudizadas pelo facto de Antonioni ter filmado em... video!
Numa adaptação muito livre de L'Aigle à Deux Têtes, de Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni dirigiu, em 1981, o filme O Mistério de Oberwald. Monica Vitti surgia na teia de um romantismo austero, quase cruel, austeridade e crueldade agudizadas pelo facto de Antonioni ter filmado em... video!terça-feira, julho 31, 2007
Antonioni: conviver com o video
 Numa adaptação muito livre de L'Aigle à Deux Têtes, de Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni dirigiu, em 1981, o filme O Mistério de Oberwald. Monica Vitti surgia na teia de um romantismo austero, quase cruel, austeridade e crueldade agudizadas pelo facto de Antonioni ter filmado em... video!
Numa adaptação muito livre de L'Aigle à Deux Têtes, de Jean Cocteau, Michelangelo Antonioni dirigiu, em 1981, o filme O Mistério de Oberwald. Monica Vitti surgia na teia de um romantismo austero, quase cruel, austeridade e crueldade agudizadas pelo facto de Antonioni ter filmado em... video!Antonioni: contra o neo-realismo
 É cada vez mais difícil falar de cinema no espaço mediático em que vivemos. Hoje, por exemplo, inadvertidamente, ouvi uma notícia numa rádio (RFM) em que, a propósito da morte de Michelangelo Antonioni, se evocava a sua condição de "referência neo-realista"...
É cada vez mais difícil falar de cinema no espaço mediático em que vivemos. Hoje, por exemplo, inadvertidamente, ouvi uma notícia numa rádio (RFM) em que, a propósito da morte de Michelangelo Antonioni, se evocava a sua condição de "referência neo-realista"...Antonioni: o último filme
.jpg)
- último filme de Michelangelo Antonioni,
um dos três episódios da longa-metragem Eros
(+ Steven Soderbergh e Wong Kar-Wai)
Quando a pop é verde
Para redescobrir a ficção científica (5)
 Arthur C Clarke
Arthur C Clarke(n. 1917)
Sobretudo reconhecido pelo argumento do histórico filme de Stanley Kubrick 2001: Odisseia no Espaço (que também adaptou ao formato de romance, editado no mesmo ano da estreia), Arthur C Clarke é um dos mais importantes e aplaudidos autores de literatura de ficção científica. Nascido em Minehead, em Minehead (Somerset, Reino Unido), a 16 de Dezembro de 1917, cumpriu parte do serviço militar na RAF como especialista em radares, somando então breves episódios de uma etapa ligada à investigação científica que dele fez ainda um dos principais contribuidores para a criação do satélite de comunicações. Foi também autor de curiosos ensaios de antecipação científica sobre a exploração do espaço nos anos 50, antes mesmo do lançamento das primeiras missões não tripuladas.
 Antigo leitor de pulp magazines, começou a publicar ficção em 1946 na Astounding Science Fiction, o primeiro dos seus contos de referência, The Sentinel, escrito em 1951 para uma competição da BBC. Clarke mudou-se em 1956 para o Sri Lanka, onde ainda hoje reside, aí assinando a maior extensão dos títulos de uma obra que consagra uma visão positiva da presença humana no espaço e reflecte frequentemente sobre a eventual relação do homem com povos alienígenas ou as marcas das suas civilizações. Pioneiro de diversas temáticas depois vulgarizadas, Clarke foi dos primeiros a levantar o receio de impactes catastróficos de corpos na Terra (The Hammer Of God) ou a possibilidade de vida em Europa, satélite de Saturno (em 2061: A Terceira Odisseia). A dada altura dedicou atenção aos fenómenos paranormais, preocupações registadas na série televisiva dos anos 80 O Mundo Misterioso de Arthur C Clarke.
Antigo leitor de pulp magazines, começou a publicar ficção em 1946 na Astounding Science Fiction, o primeiro dos seus contos de referência, The Sentinel, escrito em 1951 para uma competição da BBC. Clarke mudou-se em 1956 para o Sri Lanka, onde ainda hoje reside, aí assinando a maior extensão dos títulos de uma obra que consagra uma visão positiva da presença humana no espaço e reflecte frequentemente sobre a eventual relação do homem com povos alienígenas ou as marcas das suas civilizações. Pioneiro de diversas temáticas depois vulgarizadas, Clarke foi dos primeiros a levantar o receio de impactes catastróficos de corpos na Terra (The Hammer Of God) ou a possibilidade de vida em Europa, satélite de Saturno (em 2061: A Terceira Odisseia). A dada altura dedicou atenção aos fenómenos paranormais, preocupações registadas na série televisiva dos anos 80 O Mundo Misterioso de Arthur C Clarke.Apesar da notoriedade de 2001: Odisseia no Espaço (e da tetralogia de romances a que deu origem), o seu mais importante romance é Rendez-Vous Com Rama (a ilustração principal deste post corresponde a uma visualização artística da estrutura que encontramos no livro), porta de uma série que explora cenários de contacto com outras civilizações e suas tecnologias.
Arthur C Clarke continua a escrever e a publicar, mas apenas em colaboração com outros autores. O seu nome foi dado a um asteróide e a um prémio de literatura de ficção científica, cuja primeira ed ição teve lugar em 2005.



.
1952: Ilhas no Céu (Livros do Brasil, 1996)
1953. Childhood’s End (nunca traduzido)
1968: 2001: Odisseia no Espaço (Europa América, 1993)
1973: Rendez-Vous Com Rama (Europa América, 1993)
segunda-feira, julho 30, 2007
Bergman: a palavra "poesia"
 Movimentos de paixão.
Movimentos de paixão.Paisagens de amor.
Casais.
Fidelidades e traições.
Lágrimas, risos, gritos e sussurros.
Mulheres sós.
Homens ainda mais sós na sua ilusão de poder.
Sangue.
Cores sanguíneas.
São temas e elementos de uma telenovela? Provavelmente. E, no entanto, quando pensamos na sua materialização na obra de Ingmar Bergman, compreendemos que a impostura existencial e a mediocridade estética da telenovela nos impedem de ver a pluralidade do factor humano, isso que nos faz ser. Ser para os outros. E para nós.
Para onde vai a herança de Bergman? Quem vai amar e odiar assim os êxtases e as misérias das relações humanas?
Ligamos a televisão e um locutor muito sério diz que morreu o "poeta do cinema". Quando foi a última vez que pensou naquilo que diz? Será capaz de fazer penitência? Que espécie de penitência? Ver um filme de Bergman.
E, sobretudo, não evocar a palavra poesia em vão.
Bergman: face a face
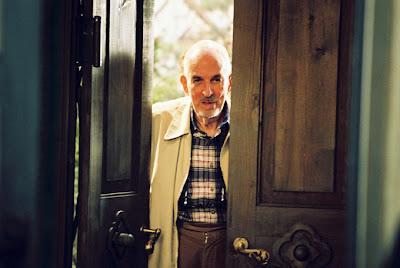
Imagem de entrada do site Ingmar Bergman face to face.
Uma canção para estas tardes quentes
Para reencontrar a ficção científica (4)

(1866-1946)
Autor prolixo, com obras publicadas em variados géneros, da ficção ao ensaio era um socialista, retratando algumas das suas obras reflexões de índole política ou social. Filho de um jardineiro, mais tarde lojista, e de uma antiga empregada doméstica, Herbert George Wells nasceu em Bromley (Kent, Reino Unido), a 21 de Setembro de 1866 e trabalhou numa loja de fazendas e foi professor antes de conseguir viver essencialmente da escrita.
 O seu primeiro best seller publicado aos 35 anos foi Anticptaions (1901), um dos seus mais visionários textos narrando um mundo no qual carros e comboios levam as populações a sair do centro das cidades para habitar em subúrbios. Datam precisamente desses dias de início de século os romances que fizeram de si um importantíssimo pioneiro da literatura de ficção científica. Wells chamou então “scientific romances” a alguns dos títulos que então publicou, entre os quais A Guerra dos Mundos, First Men In the Moon, O Homem Invisível ou A Máquina do Tempo, todos eles adaptados por diversas vezes ao cinema, este último não mais que um dispositivo narrativo para os seus comentários sobre modelos de vida social e política. A afirmação da sua identidade literária não o fechou unicamente neste género. Todavia, um dos seus mais importantes romances tardios, Coisas que Hão-de Vir, no original The Shape Of Things To Come (mais tarde transformado em magnífico filme por William Cameron Menzies), reflecte um reencontro com as temáticas da antecipação científica, numa utopia sobre um mundo no qual os homens de ciência tomaram o poder. De resto, a ideia de um “estado-mundo” no qual o voto seria confinado a cientistas, organizadores, engenheiros e notáveis dignos de mérito era uma das suas mais profundas causas ideológicas. Wells, que chegou a concorrer em listas trabalhistas, todavia sem grande fé no partido, apresentava-se como socialista, mas de ideias frequentemente em confronto com os paradigmas do socialismo do seu tempo (o que não impediu as SS de ter o seu nome entre os intelectuais a abater na sequência de uma invasão de Inglaterra). O seu “estado-mundo” não era uma democracia, grande que era o seu receio de que o cidadão comum não estivesse preparado para decidir sobre os destinos do mundo.
O seu primeiro best seller publicado aos 35 anos foi Anticptaions (1901), um dos seus mais visionários textos narrando um mundo no qual carros e comboios levam as populações a sair do centro das cidades para habitar em subúrbios. Datam precisamente desses dias de início de século os romances que fizeram de si um importantíssimo pioneiro da literatura de ficção científica. Wells chamou então “scientific romances” a alguns dos títulos que então publicou, entre os quais A Guerra dos Mundos, First Men In the Moon, O Homem Invisível ou A Máquina do Tempo, todos eles adaptados por diversas vezes ao cinema, este último não mais que um dispositivo narrativo para os seus comentários sobre modelos de vida social e política. A afirmação da sua identidade literária não o fechou unicamente neste género. Todavia, um dos seus mais importantes romances tardios, Coisas que Hão-de Vir, no original The Shape Of Things To Come (mais tarde transformado em magnífico filme por William Cameron Menzies), reflecte um reencontro com as temáticas da antecipação científica, numa utopia sobre um mundo no qual os homens de ciência tomaram o poder. De resto, a ideia de um “estado-mundo” no qual o voto seria confinado a cientistas, organizadores, engenheiros e notáveis dignos de mérito era uma das suas mais profundas causas ideológicas. Wells, que chegou a concorrer em listas trabalhistas, todavia sem grande fé no partido, apresentava-se como socialista, mas de ideias frequentemente em confronto com os paradigmas do socialismo do seu tempo (o que não impediu as SS de ter o seu nome entre os intelectuais a abater na sequência de uma invasão de Inglaterra). O seu “estado-mundo” não era uma democracia, grande que era o seu receio de que o cidadão comum não estivesse preparado para decidir sobre os destinos do mundo.1895. A Máquina do Tempo (Europa América, 1992)
1896. A Ilha do Dr Moreau (Europa América, 1989)
1897. O Homem Invisível (Século XXI, 2000)
1898. A Guerra dos Mundos (Ulisseia, 2002)
1933. Coisas que Hão-de Vir… A Vida Futura (Imprensa Beleza *, 1936)
domingo, julho 29, 2007
Iraque, 1 - Arábia Saudita, 0
 Uma mulher foi ao futebol... espantosa imagem! Uma imagem capaz de relativizar todas as certezas, desafiar todos os olhares, atravessar e ser reconhecida por todas as culturas. É uma foto da France-Presse, disponível no site da BBC, testemunhando a alegria que acompanhou a vitória da selecção de futebol do Iraque na final da Taça da Ásia (1-0, sobre a equipa da Arábia Saudita). As notícias sobre tal vitória têm tanto de jubilação, com delirantes comemorações, como de tragédia, com um saldo cruel de várias mortes em Bagdad, resultantes das próprias comemorações. Por um lado, há soldados americanos que, com contagiante ironia, sugerem que, graças a esta vitória do futebol iraquiano, "a guerra acabou e podem voltar para casa" (CNN); por outro lado, num país rasgado por tantas formas de divisão e violência, não deixa de ser admirável que a respectiva equipa de futebol, "apesar de constituída sobretudo por shiitas, tenha um sunita do Turquemenistão como capitão [além de outros jogadores provenientes de diversas regiões e sensibilidades religiosas do Iraque]" (Al Jazeera). Dir-se-ia que o futebol é um bizarro espelho dos nossos tempos convulsivos: através ele, tudo se liga e, por um brevíssimo instante, tudo parece possível. Saboreemos o instante.
Uma mulher foi ao futebol... espantosa imagem! Uma imagem capaz de relativizar todas as certezas, desafiar todos os olhares, atravessar e ser reconhecida por todas as culturas. É uma foto da France-Presse, disponível no site da BBC, testemunhando a alegria que acompanhou a vitória da selecção de futebol do Iraque na final da Taça da Ásia (1-0, sobre a equipa da Arábia Saudita). As notícias sobre tal vitória têm tanto de jubilação, com delirantes comemorações, como de tragédia, com um saldo cruel de várias mortes em Bagdad, resultantes das próprias comemorações. Por um lado, há soldados americanos que, com contagiante ironia, sugerem que, graças a esta vitória do futebol iraquiano, "a guerra acabou e podem voltar para casa" (CNN); por outro lado, num país rasgado por tantas formas de divisão e violência, não deixa de ser admirável que a respectiva equipa de futebol, "apesar de constituída sobretudo por shiitas, tenha um sunita do Turquemenistão como capitão [além de outros jogadores provenientes de diversas regiões e sensibilidades religiosas do Iraque]" (Al Jazeera). Dir-se-ia que o futebol é um bizarro espelho dos nossos tempos convulsivos: através ele, tudo se liga e, por um brevíssimo instante, tudo parece possível. Saboreemos o instante.Discos Voadores, 28 de Julho
 Depois de um álbum e um EP de excepção editados já este ano, o mundo das aventuras e desventuras de Kevin Barnes em destaque, através do seu projecto Of Montreal.
Depois de um álbum e um EP de excepção editados já este ano, o mundo das aventuras e desventuras de Kevin Barnes em destaque, através do seu projecto Of Montreal.White Stripes “A Martyr For My Love For You”
Black Rebel Mororcycle Club “Am I Only”
Wraygunn “Just A Gambling Man”
Animal Collective “Peacebone”
The Shins “Turn On Me”
Papercuts “Unavaliable”
Of Montreal “Heimdalsgate Like A Promethean Curse”
Faris Nourallah “Gone”
Rufus Wainwrught “Tiergarten”
Chemical Brothers “The Pills Won’t Help You Now”
Au Revoir Simone “A Violent Yet Flammable World”
Bat For Lashes “Trophy”
Lightning Dust “Listened On”
Mazgani “Underaeging Games”
The Good The Bad And The Queen “Nature Springs”
Franz Ferdinand “Hallam Foe Dandelion Blow”
Shady Bard “Torch Song”
David Fonseca “Superstars”
Of Montreal “Voltaic Crusher”
Of Montreal “A Sentence Of Sorts In Kongsvinger”
Of Montreal “Du Og Meg”
Of Montreal “Jennifer Laurie”
Of Montreal “Requiem For o.m.m.2”
Of Montreal “In The Army Kid”
Of Montreal “Gronelandic Edit”
Neutral Milk Hotel “In The Aeroplane Over the Sea”
Apples In Stereo “Can You Feel It?”
Marbles “Out Of Zone”
Of Montreal “No Conclusion”
Pop Dell’Arte “Zip Zap Woman”
Discos Voadores - Sábado 18.00 / Domingo 22.00
Radar 97.8 FM ou www.radarlisboa.fm
O mar de Osvaldo Golijov
 Não admira que Osvaldo Golijov seja, hoje, um dos nomes mais acarinhados do catálogo da Deutsche Grammophon. A sua primeira edição para este catálogo, o espantoso ciclo de canções Ayre (2005), para a voz de Dawn Upshaw, deu-lhe visibilidade como nunca antes havia conhecido. No ano passado, a ópera Ainadamar valeu-lhe dois Grammys e maior número de admiradores. Em poucos anos, cruzando na sua música ecos da tradição clássica ocidental, linhas sugestivas de algumas correntes contemporâneas, temperos de world music e usando ferramentas electrónicas habitualmente mais empregues nos espaços da música de dança actual, Osvaldo Golijov mereceu ser designado como o primeiro compositor do século XXI. A sua visão musical resulta da soma de pedaços colhidos em vários tempos e lugares. As suas composições são frutos de uma atitude que vê no ser híbrido uma forma de representar um presente onde o particular se entende com o global. Filho de pais do Leste europeu, mas crescido e educado na Argentina, Golijov descreve a sua vida como uma de constantes migrações. E na sua música regista essa mesma autobiografia errante.
Não admira que Osvaldo Golijov seja, hoje, um dos nomes mais acarinhados do catálogo da Deutsche Grammophon. A sua primeira edição para este catálogo, o espantoso ciclo de canções Ayre (2005), para a voz de Dawn Upshaw, deu-lhe visibilidade como nunca antes havia conhecido. No ano passado, a ópera Ainadamar valeu-lhe dois Grammys e maior número de admiradores. Em poucos anos, cruzando na sua música ecos da tradição clássica ocidental, linhas sugestivas de algumas correntes contemporâneas, temperos de world music e usando ferramentas electrónicas habitualmente mais empregues nos espaços da música de dança actual, Osvaldo Golijov mereceu ser designado como o primeiro compositor do século XXI. A sua visão musical resulta da soma de pedaços colhidos em vários tempos e lugares. As suas composições são frutos de uma atitude que vê no ser híbrido uma forma de representar um presente onde o particular se entende com o global. Filho de pais do Leste europeu, mas crescido e educado na Argentina, Golijov descreve a sua vida como uma de constantes migrações. E na sua música regista essa mesma autobiografia errante.  Oceana é o seu terceiro disco para a Deustshe Grammophon. E, talvez, o mais “clássico” da sua obra até aqui. O título do álbum é também o da peça de abertura, inspirada numa cantata de Bach e criada sobre um poema de Neruda. Nascida de um desafio lançado para um ciclo de cantatas para um festival centrado em Bach na Universidade do Oregon, Oceana surgiu com a vontade de “transformar paixão em geometria”, como Golijov explica no booklet. Transformar água e saudade, luz e esperança, “toda a narureza sul americana” em música. O poema é tirado de Cantos Cerimonialres, de Neruda (1931), as suas palavras aqui entregues à voz da brasileira Luciana Souza (que em 2008 reencontraremos na nova gravação de St Mark’s Passion, de Golijov, a editar pela DG). Neste disco, além desta peça que revela evidências sul-americanas entre uma música essencialmente ondulante, tranquila como um mar em dia de calmaria, encontramos duas outras magníficas obras de Golijov (e nelas, curiosamente, o melhor desta edição). Numa delas o reencontro do compositor com o Kronos Quartet dá-nos o espantoso, sombrio, quase arrepiante, Tenebrae. A fechar, novamente com Dawn Upshaw, Three Songs, onde ecos do Leste europeu irrompem entre melodias tão seguras, mas levres, como uma convicta rabanada de vento.
Oceana é o seu terceiro disco para a Deustshe Grammophon. E, talvez, o mais “clássico” da sua obra até aqui. O título do álbum é também o da peça de abertura, inspirada numa cantata de Bach e criada sobre um poema de Neruda. Nascida de um desafio lançado para um ciclo de cantatas para um festival centrado em Bach na Universidade do Oregon, Oceana surgiu com a vontade de “transformar paixão em geometria”, como Golijov explica no booklet. Transformar água e saudade, luz e esperança, “toda a narureza sul americana” em música. O poema é tirado de Cantos Cerimonialres, de Neruda (1931), as suas palavras aqui entregues à voz da brasileira Luciana Souza (que em 2008 reencontraremos na nova gravação de St Mark’s Passion, de Golijov, a editar pela DG). Neste disco, além desta peça que revela evidências sul-americanas entre uma música essencialmente ondulante, tranquila como um mar em dia de calmaria, encontramos duas outras magníficas obras de Golijov (e nelas, curiosamente, o melhor desta edição). Numa delas o reencontro do compositor com o Kronos Quartet dá-nos o espantoso, sombrio, quase arrepiante, Tenebrae. A fechar, novamente com Dawn Upshaw, Three Songs, onde ecos do Leste europeu irrompem entre melodias tão seguras, mas levres, como uma convicta rabanada de vento. A trégua depois do apocalipse
‘Strangers When We Meet’ – Single, 1995
 Depois de dez anos de travessia do deserto (com pontuais oásis pelo meio, é verdade), Bowie reencontrou caminho seguro e desafiante ao trabalhar a banda sonora para The Buddha of Suburbia. Foi ao escutar esse disco que Brian Eno sentiu haver pontos de interesse comum que assim permitiram o trabalho conjunto em 1.Outside, a obra-prima de Bowie dos anos 90. Esse álbum seguia além das pistas de Buddha of Suburbia, mas a esse disco ia buscar uma canção que, de certa maneira, serve de ponte entre ambas as etapas. Strangers When We Meet, baseada num riff de uma canção do Spencer Davies Group (Gimmie Some Loving) e claramente evocativa dos Roxy Music (etapa Manifesto), quase parecia ajustar contas com palavras ditas por Angie, a ex-mulher de Bowie, em entrevistas depois do divórcio. Era um dos momentos menos viçosos de Buddha Of Suburbia mas, regravada nas sessões de 1.Outside gerou uma das mais belas canções de Bowie nos anos 90. Colocada no fim do alinhamento do álbum, é como uma trégua melodista, um pequeno paraíso pós-apocalíptico que, liberto do arranjo essencialmente electrónico da versão original, ganhou massa corporal mais “convencional”, sem contudo descaracterizar a essência da canção. Para o single, foi também regravado o lado B, o clássico The Man Who Sold The World, entretanto redescoberto por uma multidão de jovens admiradores, depois de a encontrarem, em versão cantada por Kurt Cobain, no unplugged dos Nirvana. A canção surge em leitura pensada em consonância com a personalidade textural de 1.Oustide, distante portanto da alma rock do original de 1970. Apesar da excelência da oferta em single, foi uma edição com discreta presença no mercado, não tendo ultrapassado o número 39 no Reino Unido.
Depois de dez anos de travessia do deserto (com pontuais oásis pelo meio, é verdade), Bowie reencontrou caminho seguro e desafiante ao trabalhar a banda sonora para The Buddha of Suburbia. Foi ao escutar esse disco que Brian Eno sentiu haver pontos de interesse comum que assim permitiram o trabalho conjunto em 1.Outside, a obra-prima de Bowie dos anos 90. Esse álbum seguia além das pistas de Buddha of Suburbia, mas a esse disco ia buscar uma canção que, de certa maneira, serve de ponte entre ambas as etapas. Strangers When We Meet, baseada num riff de uma canção do Spencer Davies Group (Gimmie Some Loving) e claramente evocativa dos Roxy Music (etapa Manifesto), quase parecia ajustar contas com palavras ditas por Angie, a ex-mulher de Bowie, em entrevistas depois do divórcio. Era um dos momentos menos viçosos de Buddha Of Suburbia mas, regravada nas sessões de 1.Outside gerou uma das mais belas canções de Bowie nos anos 90. Colocada no fim do alinhamento do álbum, é como uma trégua melodista, um pequeno paraíso pós-apocalíptico que, liberto do arranjo essencialmente electrónico da versão original, ganhou massa corporal mais “convencional”, sem contudo descaracterizar a essência da canção. Para o single, foi também regravado o lado B, o clássico The Man Who Sold The World, entretanto redescoberto por uma multidão de jovens admiradores, depois de a encontrarem, em versão cantada por Kurt Cobain, no unplugged dos Nirvana. A canção surge em leitura pensada em consonância com a personalidade textural de 1.Oustide, distante portanto da alma rock do original de 1970. Apesar da excelência da oferta em single, foi uma edição com discreta presença no mercado, não tendo ultrapassado o número 39 no Reino Unido.Strangers When We Meet
Lado A: Strangers When We Meet (edit)
Lado B: The Man Who Sold The World (nova versão)
No CD Single a estes dois temas juntam-se ainda a versão do álbum de Strangers When We Meet e o inédito Get Real
O teledisco, de Sam Bayer (que assinara, pouco tempo antes, o de Hearts Filthy Lesson) aposta numa construção texturalmente densa, um pouco como o som álbum. Apresenta Bowie e uma bailarina num teatro semi-destruído. Interessante, mas longe do seu melhor.
Para reencontrar a ficção científica (3)
 Rotas e destinos
Rotas e destinos De que se fala, então, quando se fala de ficção científica? Para Tomas M. Disch (em The Dreams Our Stuff Is Made Of: How Science Fiction Conquered The World, de 1998), a ficção científica dos últimos 50 anos foi profecia para os convertidos e mecanismo amplificador de desilusão para os desencantados. E, sem receio, conclui que “algumas das mais relevantes realidades do contexto histórico actual têm raiz num modo de pensar que aprendemos na ficção científica”. Uma sugestão de realismo através da ficção, que se compadece com uma ideia da escritora Úrsula Le Guin, que num ensaio de 1989 remata que a “ficção científica bem concebida, como qualquer ficção séria, mesmo que humorística, é uma forma de tentar descrever o que está a acontecer na realidade, o que as pessoas sentem de facto, aquilo com que nos relacionamos nesta barriga do universo”.
De que se fala, então, quando se fala de ficção científica? Para Tomas M. Disch (em The Dreams Our Stuff Is Made Of: How Science Fiction Conquered The World, de 1998), a ficção científica dos últimos 50 anos foi profecia para os convertidos e mecanismo amplificador de desilusão para os desencantados. E, sem receio, conclui que “algumas das mais relevantes realidades do contexto histórico actual têm raiz num modo de pensar que aprendemos na ficção científica”. Uma sugestão de realismo através da ficção, que se compadece com uma ideia da escritora Úrsula Le Guin, que num ensaio de 1989 remata que a “ficção científica bem concebida, como qualquer ficção séria, mesmo que humorística, é uma forma de tentar descrever o que está a acontecer na realidade, o que as pessoas sentem de facto, aquilo com que nos relacionamos nesta barriga do universo”.Daí que a evolução das temáticas centrais na história da literatura de ficção científica tenha acompanhado, de perto, as grandes descobertas e invenções, os medos e ansiedades, os factos e as grandes personagens. As primeiras manifestações do género, no século XIX, falam de máquinas incríveis, de mundos perdidos (estávamos na era das grandes explorações geográficas), da teoria da evolução. Com a alvorada do século XX, a cidade tomou maior protagonismo, assim como a consciência de possíveis futuros sombrios. O primeiro voo dos irmãos Wright fez as histórias levantar mais ainda do solo, rumar mais além (inclusivamente no tempo). Em 1924, o checo Karel Capek apresentou o termo robot na peça R.U.R., nascendo aí um importante novo filão de histórias, umas de mutualismo, outras de medo. Contra a Grande Depressão, depois de 1929, os anos 30 trouxeram à ficção científica, temas escapistas de luz, mas também de novo génio tecnológico.
 A idade atómica e os avanços nas tecnologias de voo decorrentes de programas militares desviou atenções para o espaço, num tempo de erupção de textos em revistas da especialidade (as pulps), entre as quais a Amazing Stories (criada em 1926) e a Astounding Science Fiction (criada em 1930 originalmente como Astounding Stories), e os muitos sucedâneos como a Planet Stories, a Startling Stories e Captain Future. A ficção científica afirmava-se, apesar de raras contribuições de outros pólos, uma realidade literária essencialmente anglo-americana, moderna e capitalista (mesmo que por vezes crítica de si mesma). Na Europa comunista, quaisquer visões de futuro que colocassem em causa as previsões segundo os modelos marxista-leninistas, eram indesejadas, portanto silenciadas.
A idade atómica e os avanços nas tecnologias de voo decorrentes de programas militares desviou atenções para o espaço, num tempo de erupção de textos em revistas da especialidade (as pulps), entre as quais a Amazing Stories (criada em 1926) e a Astounding Science Fiction (criada em 1930 originalmente como Astounding Stories), e os muitos sucedâneos como a Planet Stories, a Startling Stories e Captain Future. A ficção científica afirmava-se, apesar de raras contribuições de outros pólos, uma realidade literária essencialmente anglo-americana, moderna e capitalista (mesmo que por vezes crítica de si mesma). Na Europa comunista, quaisquer visões de futuro que colocassem em causa as previsões segundo os modelos marxista-leninistas, eram indesejadas, portanto silenciadas.Num tempo de explosão de produção de ficção científica de série B no cinema, multiplicaram-se nos anos 50 os livros com histórias de discos voadores e contactos com alienígenas. A guerra-fria gerou, pouco depois, textos pós-apocalípticos num tempo também de exploração de novos sonhos e ideias e de reflexões sobre máquinas pensantes. O sucesso das primeiras missões tripuladas projectou histórias de vida no espaço na década de 70, explorando intensamente os confins do sistema solar, sobretudo Marte, alvo de inúmeros textos entre os anos 80 e 90. Importantíssima evolução temática (e estética) ainda nos anos 80, o advento do cyberpunk trouxe novas visões, introduzindo o homem em sistemas cibernéticos, frequentemente em sombrias cidades dominadas por novas ordens políticas (ou económicas).
 Hoje a ficção científica procura outros destinos. Com a agenda ecológica no centro das atenções, o aquecimento global e evidentes irregularidades meteorológicas já mensuráveis, publicam-se histórias de novas utopias (com paradigma no fundamental Ecotopia, de Ernest Callenbach) ou de grandes catástrofes provocadas pela má gestão do planeta pelo homem (como se pode ler na trilogia que Kim Stanley Robinson terminará este ano). Contaminada pelo cinema e televisão e, agora, também pelos videojogos, a ficção científica procura expressar hoje as ansiedades do novo milénio. Ideias lançadas pelo cyberpunk foram assimiladas pela cultura mainstream, havendo quem, como Scott Bukatman, aponte esta expressão da cibercultura como elemento estrutural do pós-modernismo. Em Terminal Identity: The Virtual Subject In Postmodern Science Fiction, defende que vivemos num tempo e lugar que visionamos já como de ficção científica. Mas deixará o homem, mesmo ciente das suas limitações, de sonhar novas utopias, mesmo que sob a forma de pesadelos, a tempo de os evitar?
Hoje a ficção científica procura outros destinos. Com a agenda ecológica no centro das atenções, o aquecimento global e evidentes irregularidades meteorológicas já mensuráveis, publicam-se histórias de novas utopias (com paradigma no fundamental Ecotopia, de Ernest Callenbach) ou de grandes catástrofes provocadas pela má gestão do planeta pelo homem (como se pode ler na trilogia que Kim Stanley Robinson terminará este ano). Contaminada pelo cinema e televisão e, agora, também pelos videojogos, a ficção científica procura expressar hoje as ansiedades do novo milénio. Ideias lançadas pelo cyberpunk foram assimiladas pela cultura mainstream, havendo quem, como Scott Bukatman, aponte esta expressão da cibercultura como elemento estrutural do pós-modernismo. Em Terminal Identity: The Virtual Subject In Postmodern Science Fiction, defende que vivemos num tempo e lugar que visionamos já como de ficção científica. Mas deixará o homem, mesmo ciente das suas limitações, de sonhar novas utopias, mesmo que sob a forma de pesadelos, a tempo de os evitar?sábado, julho 28, 2007
Na rodagem de "Indiana Jones 4"
 Indiana Jones 4 (ainda sem título definitivo) está em marcha. A rodagem começou em finais de Junho e o lançamento mundial está marcada para a penúltima semana de Maio de 2008 — dia 22 nos EUA e Reino Unido (provavelmente também em Portugal, uma vez que se trata de uma quinta-feira, dia habitual de estreias no nosso país). O site oficial já está activo, disponibilizando as primeiras fotografias e videos de rodagem, alguns dos quais também acessíveis no YouTube — este que aqui apresentamos abre com um brinde de Steven Spielberg, na presença do produtor George Lucas e de toda a equipa.
Indiana Jones 4 (ainda sem título definitivo) está em marcha. A rodagem começou em finais de Junho e o lançamento mundial está marcada para a penúltima semana de Maio de 2008 — dia 22 nos EUA e Reino Unido (provavelmente também em Portugal, uma vez que se trata de uma quinta-feira, dia habitual de estreias no nosso país). O site oficial já está activo, disponibilizando as primeiras fotografias e videos de rodagem, alguns dos quais também acessíveis no YouTube — este que aqui apresentamos abre com um brinde de Steven Spielberg, na presença do produtor George Lucas e de toda a equipa.A banda pop de... Philip Glass
 Bom, não era exactamente a "sua" banda. Mas Philip Glass co-produziu, com Kurt Munkacsi (o seu parceiro técnico de sempre), e tocou teclados nos dois álbuns da curta, mas saborosa, discografia dos Polyrock. Poly quê? Os Polyrock foram uma das muitas bandas da geração pós-punk nova iorquina. Surgiram em 1978, sob o comando do ex-Model Citizen Billy Robertson. Apesar de então frequentemente comparados com os Talking Heads, optaram sempre por uma postura musical de contaminação reduzida, minimalista, ritmica e melodicamente arrumada numa arquitectura de sons em tudo próxima da obra à época de Philip Glass. Não admira, portanto, que este tenha acedido em colaborar activamente nos seus díscos. Glass toca teclados adicionais nos dois álbuns da banda, assim como tem protagonismo, ao piano, no tema Bucket Rider (ver teledisco mais abaixo), um dos singles extraídos do álbum de estreia, em 1980. Todavia, Glass não surge nas imagens. A banda teve vida curta, limitando a sua existência a dois álbuns esteticamente próximos entre si, nomeadamente Polyrock (1980, cuja capa ilustra o post) e Changing Hearts (1981), ambos editados pela RCA. Em 1982 editaram o EP Above The Fruited Plain e, em 1986, a sua derradeira edição, No Love Lost, corresponde a uma colecção de inéditos. Este ano a Sony BMG reeditou os dois álbuns de originais do grupo. Reedições discretas, sem textos nos booklets, sem extras, sem apoio de marketing... Aqui fica a contribuição Sound + Vision, com Bucket Rider, de 1980:
Bom, não era exactamente a "sua" banda. Mas Philip Glass co-produziu, com Kurt Munkacsi (o seu parceiro técnico de sempre), e tocou teclados nos dois álbuns da curta, mas saborosa, discografia dos Polyrock. Poly quê? Os Polyrock foram uma das muitas bandas da geração pós-punk nova iorquina. Surgiram em 1978, sob o comando do ex-Model Citizen Billy Robertson. Apesar de então frequentemente comparados com os Talking Heads, optaram sempre por uma postura musical de contaminação reduzida, minimalista, ritmica e melodicamente arrumada numa arquitectura de sons em tudo próxima da obra à época de Philip Glass. Não admira, portanto, que este tenha acedido em colaborar activamente nos seus díscos. Glass toca teclados adicionais nos dois álbuns da banda, assim como tem protagonismo, ao piano, no tema Bucket Rider (ver teledisco mais abaixo), um dos singles extraídos do álbum de estreia, em 1980. Todavia, Glass não surge nas imagens. A banda teve vida curta, limitando a sua existência a dois álbuns esteticamente próximos entre si, nomeadamente Polyrock (1980, cuja capa ilustra o post) e Changing Hearts (1981), ambos editados pela RCA. Em 1982 editaram o EP Above The Fruited Plain e, em 1986, a sua derradeira edição, No Love Lost, corresponde a uma colecção de inéditos. Este ano a Sony BMG reeditou os dois álbuns de originais do grupo. Reedições discretas, sem textos nos booklets, sem extras, sem apoio de marketing... Aqui fica a contribuição Sound + Vision, com Bucket Rider, de 1980:Para reencontrar a ficção científica (2)
.
 .
.
Sementes e raízes
Thomas D. Clarkson, que em 1985 publicou Some Kind Of Paradise: The Emergence Of American Science Fiction, encontra as sementes deste género literário no contexto do impacte das mudanças tecnológicas que o mundo conheceu entre 1870 e 1910, e identifica algumas outras raízes nas velhas histórias de terror e de fantasmas. Num tempo de grandes descobertas científicas, nasce assim “um registo de ficção que reflecte um universo onde o novo surge por virtudes da descoberta de cientistas ou da ingenuidade de inventores e um outro onde lugares estranhos são povoados segundo a lógica da teoria da evolução”, defende Brian Stablefold, um estudioso dos primórdios da ficção científica inglesa. Paul K. Alkon, em Origins Of Futuristic Fiction (1987), localiza em França a proto-história deste domínio literário, em “inovações estéticas” que proporcionaram a sua emergência como género em finais do século XIX, e refere textos como Epigone, Histoire du Siècle Future de Jacques Guttin (1659), L’an 2440 de Louis-Sébastien Mercier (1771) ou Le Roman de L’Avenir de Félix Bodin (1834) como exemplos.
 Podemos, na verdade, recuar ao ano 160 d.C., à Vera Historia de Luciano, na qual se fala de uma rabanada de vento que leva um navio para lá dos Pilares de Hércules (o estreito de Gibraltar), até à Lua (onde os viajantes encontram um rei prestes a entrar em guerra com o imperador do Sol sobre o direito a colonizar Vénus), para saborear a primeira narrativa com sabor a ficção científica. Kepler, em Somnium (publicado postumamente em 1634) falou de uma outra expedição lunar ajudada por bruxaria. E Voltaire, em Micrómegas (1752), descreve uma vista à Terra de um ser de um planeta em órbita de Sirius e de um amigo seu vindo de Saturno.
Podemos, na verdade, recuar ao ano 160 d.C., à Vera Historia de Luciano, na qual se fala de uma rabanada de vento que leva um navio para lá dos Pilares de Hércules (o estreito de Gibraltar), até à Lua (onde os viajantes encontram um rei prestes a entrar em guerra com o imperador do Sol sobre o direito a colonizar Vénus), para saborear a primeira narrativa com sabor a ficção científica. Kepler, em Somnium (publicado postumamente em 1634) falou de uma outra expedição lunar ajudada por bruxaria. E Voltaire, em Micrómegas (1752), descreve uma vista à Terra de um ser de um planeta em órbita de Sirius e de um amigo seu vindo de Saturno.Brian Aldiss (n. 1925), escritor, defende, contudo, num ensaio publicado em 1973, que Frankenstein, de Mary Shelley, publicado em 1818, é o primeiro exemplo concreto de ficção científica e sublinha que, dada a sua origem, este é um género de “demanda de definição para a humanidade e o seu estatuto no universo, que reflecte o nosso avançado, mas confuso, estado de evolução do conhecimento e que é caracteristicamente apresentado num modo gótico ou pós-gótico”.
Que futuro?
.


Há quem confunda ficção científica com a vontade de prever o futuro e até quem meça “qualidades” de certos textos pela forma como se aproximaram ou não da realidade, anos mais tarde… Mas esta não é uma arte divinatória, suportando-se a especulação por regras com o grau de liberdade (e ousadia) que o autor souber defender.
Em Terminal Visions: The Literature of Last Things (1982), W.Warren Wagar aponta como papel da ficção científica o retrato da forma com que “uma cultura moribunda, neste caso, a cultura burguesa do Ocidente pós-cristão, escolheu para expressar o declínio da fé em si mesma”. E lembra que, quando a história suplanta o mito como contexto para visões apocalípticas, a ficção especulativa transforma-se no novo lugar ideal para narrativas de escatologia. Romances como The Last Man de Mary Shelley (1826) ou A Máquina do Tempo de H.G: Wells (1895) são, por este prisma, narrativas de “revisão terminal”.
Num outro ensaio, Progress Versus Utopia, Or Can We Imagine The Future?, também de 1982, Frederik Jameson debate a ficção científica como um vasto terreno de narrativas cuja resolução tem apenas por fronteira “o limite que o pensamento não consegue ultrapassar”. Jameson explica ainda que muito do trabalho da ficção científica actual é o de “desfamiliarizar e reestruturar as nossas experiências e o nosso presente” e conclui que, mais que antever um futuro “real”, serve para “transformar o nosso presente no passado de algo que está para vir”. Daí que aponte a ficção científica como um dispositivo que funciona como “marca das limitações actuais da nossa imaginação” mais que uma forma de antecipação, demonstrando-se, assim, o fracasso da imaginação utópica, pelo que a ficção científica acaba “transformada na contemplação dos nossos limites absolutos”.
Tom Moyland, autor de Demand The Impossible: Science Fiction and The Utopian Imagination (1986), estudou uma série de romances de ficção científica dos anos 70 que denotam na sua genética a tradição da literatura utópica, concluindo que as “utopias críticas podem ser lidas como deslocamentos gerados a partir de contradições actuais do inconsciente político”. E, ainda, que as sociedades imaginadas em utopias críticas apontam paradigmas alternativos previsíveis porque, no seu cerne, “identificam um discurso autocrítico como um processo capaz de demolir as redes ideológicas dominantes”.
Os últimos momentos de Jim Morrison?
 Um livro agora publicado em França está a abalar um dos mitos mais lendários do panteão do rock’n’roll: será que, afinal, Jim Morrison não morreu na banheira do seu apartament, no número 17 da Rue Beautreills, em Paris? Amigo do músico, Sam Bernett era na altura o responsável pelo clube nocturno da rive gauche Rock’N’Roll Circus. O seu livro The End: Jim Morrison, defende que Morrison terá, afinal, morrido de overdose de heroína, na casa de banho do seu clube.Segundo descreve, depois de avisado por um empregado, ele mesmo terá visto Morrison dobrado, de braços caídos e a cabeça à altura das pernas, com espuma e sangue a sair dos lábios. O livro relata ainda que terão sido os mesmos dois dealers que antes tinham vendido a heroína ao músico quem terão levado o corpo para o seu apartamento, colocando-o na banheira onde, depois, a sua companheira Pamela Courson. Sem sinais de agressão, o óbito foi declarado sem ordem para que se fizesse uma autópisia. O livro revela, no entanto, que um médico presente no clube, apesar de ter mencionado um possível ataque cardíaco, terá falado de overdose letal.
Um livro agora publicado em França está a abalar um dos mitos mais lendários do panteão do rock’n’roll: será que, afinal, Jim Morrison não morreu na banheira do seu apartament, no número 17 da Rue Beautreills, em Paris? Amigo do músico, Sam Bernett era na altura o responsável pelo clube nocturno da rive gauche Rock’N’Roll Circus. O seu livro The End: Jim Morrison, defende que Morrison terá, afinal, morrido de overdose de heroína, na casa de banho do seu clube.Segundo descreve, depois de avisado por um empregado, ele mesmo terá visto Morrison dobrado, de braços caídos e a cabeça à altura das pernas, com espuma e sangue a sair dos lábios. O livro relata ainda que terão sido os mesmos dois dealers que antes tinham vendido a heroína ao músico quem terão levado o corpo para o seu apartamento, colocando-o na banheira onde, depois, a sua companheira Pamela Courson. Sem sinais de agressão, o óbito foi declarado sem ordem para que se fizesse uma autópisia. O livro revela, no entanto, que um médico presente no clube, apesar de ter mencionado um possível ataque cardíaco, terá falado de overdose letal.
sexta-feira, julho 27, 2007
Para reencontrar a ficção científica

Usando outros contextos, mundos ou tempos, a ficção científica mais não tem proporcionado que terreno fértil e livre para reflexões sobre modelos políticos, sociais, económicos, sob a alçada de cauções dadas pela ciência e (ou) tecnologia. De resto, a separação mais evidente com os terrenos da fantasia (género frequentemente apresentado em escaparates comuns em muitas livrarias) estabelece-se entre o recurso à ciência na ficção científica e a simples invocação de magia nesse outro domínio. Apesar da vulgarização de certos ícones e mecanismos narrativos através de derivados menores na escrita (sobretudo em revistas dos anos 40 a 60, onde o trigo convivia com o joio) e, mais ainda, o cinema (das séries B dos anos 50 às space operas posteriores à Guerra das Estrelas), a ficção científica não deixou nunca de ser domínio de invenção literária na qual nasceram autores de referência (como H.G. Wells, Robert Heinlein, Philip K Dick ou Ray Bradbury) ou que, a dada altura, convocou a atenção de escritores de obra reconhecida noutros domínios (sendo casos famosos os de Aldous Huxley, George Orwell, J.G. Ballard ou mesmo o divulgador Carl Sagan). O polaco Stanislaw Lem (autor do clássico Solaris), céptico de certas características da escrita nesta área, definiu este universo literário como um mundo dominado por charlatães entre os quais só por vezes emergiam talentos reais. Apesar do exagero, tem alguma razão, uma verdadeira multidão de autores menores (alguns medíocres) representada na maioria das colecções da especialidade…
Nos últimos 20 anos multiplicaram-se o número de universidades, sobretudo nos EUA e Reino Unido, a propor licenciaturas de especialidade nesta área da criação literária. O discurso crítico ganhou solidez e visibilidade, a quantidade de estudos teóricos publicados aumentou significativamente. Neste momento, depois de compreendida a sua forma e função, debate-se, sobretudo, se este foi um género literário eminentemente característico do século XX, ou se é antes uma entidade viva, com novos desafios pela frente.
O que é a ficção científica?
 A ficção científica tem, sobretudo, reflectido sobre as grandes esperanças da humanidade, sobre o papel da ciência e tecnologia, mas também sobre o medo que inspiram certos modelos de poder - daí a profusão de distopias, entre as quais os célebres romances O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley (1932), 1984, de George Orwell (1949) ou Farenheit 451, de Ray Bradbury (1953) - bem como as muitas incógnitas que o desenvolvimento tecnológico ainda guarda. A história do inventor destruído pela invenção é, de resto, uma das manifestações mais primárias desta última
A ficção científica tem, sobretudo, reflectido sobre as grandes esperanças da humanidade, sobre o papel da ciência e tecnologia, mas também sobre o medo que inspiram certos modelos de poder - daí a profusão de distopias, entre as quais os célebres romances O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley (1932), 1984, de George Orwell (1949) ou Farenheit 451, de Ray Bradbury (1953) - bem como as muitas incógnitas que o desenvolvimento tecnológico ainda guarda. A história do inventor destruído pela invenção é, de resto, uma das manifestações mais primárias desta última  ideia.
ideia.Robert Heinlein (1907-1988) definiu ficção científica como “especulação realista sobre possíveis futuros acontecimentos, baseada solidamente no mundo real, passado e presente, e através de um conhecimento da natureza e do método científico”. Sublinhando distanciamento das novelas baratas para monstros verdes, robots assassinos ou naves colossais, o escritor Theodore Sturgeon (1918-1985) afirmou que “qualquer boa ficção científica é sempre uma história sobre seres humanos, com problemas humanos e uma solução humana que não pode ocorrer fora de um contexto que a
 ciência não procure explicar”.
ciência não procure explicar”.Darko Suvin, autor de Metamorphoses Of Science Fiction: On The Poetics And Story Of A Literary Genre (1979) define esta como uma escrita que se distingue “pelo domínio narrativo de um elemento ficcional inovador, validado por uma lógica cognitiva”, e insiste na sua qualificação como género literário, tão válido pelas suas qualidades intelectuais como estéticas, este um debate não unânime ainda hoje. Bruce Franklin, autor em 1980 de uma tese sobre a obra de Heinlein, reconhece que este foi o escritor americano que “tirou a ficção científica de um gueto, o primeiro a ser integrado na cultura popular americana e, mais tarde, a merecer a aceitação em meios literários mais elevados”.
Novo inquérito: Interpol
 O terceiro álbum dos Interpol, Our Love To Admire, claramente um dos discos mais aguardados do ano, dividiu opiniões. Por isso mesmo, aqui lançamos um novo inquérito. Muito Bom? Bom? Razoável? Ou uma desilusão? As respostas podem ser dadas usando o sistema que o blogger recentemente colocou ao serviço deste tipo de sondagens. Encontram este inquérito na barra lateral da direira, abaixo de um outro sobre David Bowie e antes da agenda. Uma capa do álbum ajuda a localizar rapidamente o inquérito. Esta auscultação de opiniões sobre discos vai tomar uma regularidade semanal no Sound + Vision. Brevemente, o cinema também sob inquéritos regulares...
O terceiro álbum dos Interpol, Our Love To Admire, claramente um dos discos mais aguardados do ano, dividiu opiniões. Por isso mesmo, aqui lançamos um novo inquérito. Muito Bom? Bom? Razoável? Ou uma desilusão? As respostas podem ser dadas usando o sistema que o blogger recentemente colocou ao serviço deste tipo de sondagens. Encontram este inquérito na barra lateral da direira, abaixo de um outro sobre David Bowie e antes da agenda. Uma capa do álbum ajuda a localizar rapidamente o inquérito. Esta auscultação de opiniões sobre discos vai tomar uma regularidade semanal no Sound + Vision. Brevemente, o cinema também sob inquéritos regulares...
quinta-feira, julho 26, 2007
Encantos de Verão
quarta-feira, julho 25, 2007
Netrebko + Harnoncourt + Mozart
 Pelo seu arrojo formal, com a encenação de Claus Guth a deslocar a acção para um ambiente fin de siècle, algures na Europa central; pela excelência dos seus intérpretes, com destaque para Ildebrando D'Arcangelo (Figaro), Anna Netrebko (Susanna) e Christine Schäfer (Cherubino); pela austera elegância da direcção musical de Nikolaus Harnoncourt, com
Pelo seu arrojo formal, com a encenação de Claus Guth a deslocar a acção para um ambiente fin de siècle, algures na Europa central; pela excelência dos seus intérpretes, com destaque para Ildebrando D'Arcangelo (Figaro), Anna Netrebko (Susanna) e Christine Schäfer (Cherubino); pela austera elegância da direcção musical de Nikolaus Harnoncourt, com  a Filarmónica de Viena — por tudo isso, e tam-bém pela consistência global de um espectáculo de pura excelência artísti-ca, a encenação de As Bodas de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Festival de Salzburgo de 2006, foi um acontecimento que marcou a paisagem internacional do canto lírico. Podemos agora desfrutá-la numa edição de três CDs, da Deutsche Grammophon, devi-damente acompanhado pelo libretto de Lorenzo Da Ponte e escla-recedoras notas de produção. Oportunidade, em particular, para apreciar a excelência da soprano russa Netrebko [foto], segura-mente uma dos mais fascinantes vozes afirmadas ao longo da década de 90.
a Filarmónica de Viena — por tudo isso, e tam-bém pela consistência global de um espectáculo de pura excelência artísti-ca, a encenação de As Bodas de Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, no Festival de Salzburgo de 2006, foi um acontecimento que marcou a paisagem internacional do canto lírico. Podemos agora desfrutá-la numa edição de três CDs, da Deutsche Grammophon, devi-damente acompanhado pelo libretto de Lorenzo Da Ponte e escla-recedoras notas de produção. Oportunidade, em particular, para apreciar a excelência da soprano russa Netrebko [foto], segura-mente uma dos mais fascinantes vozes afirmadas ao longo da década de 90.Trolaró 2.05
Save 1520!
 Nova Iorque tem entre mãos mais uma campanha pela defesa do seu património cultural. Um ano depois de infeliz desfecho no caso CBGB, obrigando Hilly Krystal a fechar o mítico clube que, entre 1973 e 75 viu nascer o punk, uma nova luta junta músicos, políticos e demais cidadãos pela defesa de um outro edifício. Longe da Bowery, no Sul de Manhattam, onde durante mais de 30 anos morou o agora encerrado CBGB, o número 1520 da Sedgwick Avenue, no Broxn, é o espaço agora na berlinda. Trata-se de um edifício construído em 1969, ao abrigo de um programa de habitação económica no qual, em festas num apartamento do primeiro andar, no Verão de 1973, terá nascido o hip hop.
Nova Iorque tem entre mãos mais uma campanha pela defesa do seu património cultural. Um ano depois de infeliz desfecho no caso CBGB, obrigando Hilly Krystal a fechar o mítico clube que, entre 1973 e 75 viu nascer o punk, uma nova luta junta músicos, políticos e demais cidadãos pela defesa de um outro edifício. Longe da Bowery, no Sul de Manhattam, onde durante mais de 30 anos morou o agora encerrado CBGB, o número 1520 da Sedgwick Avenue, no Broxn, é o espaço agora na berlinda. Trata-se de um edifício construído em 1969, ao abrigo de um programa de habitação económica no qual, em festas num apartamento do primeiro andar, no Verão de 1973, terá nascido o hip hop.Quem recorda esse berço é hoje o DJ Kool Herc, então com 18 anos e que, juntamente com a irmã Cindy Campbell, era uma das figuras mais activas desse movimento que hoje é reconhecido como determinante momento de invenção na proto-história do hip hop. Nascido na Jamaica em meados dos anos 50, cedo descobriu o encanto dos sound systems e da cultura dancehall em Kingston Town. Juntando o seu gira-discos a outros emprestados de amigos, cruzando discos (muitos deles de funk), ensaiou manobras inovadoras, aos poucos estabelecendo a base do que se veio a chamar break beat DJing. E, de certa forma, dando primeiros passos formais em formas de construção rítmica das quais evoluiria o hip hop.
Kool Herc é o rosto da campanha em defesa do número 1520 da Sedgwick Avenue. Campanha que, na primeira linha, pede a inscrição como património, daquele berço de uma expressão cultural que é filha da cidade de Nova Iorque e que, entretanto, descobriu o mundo. Todavia, esta é também uma campanha em defesa das premissas sociais pelas quais o edifício foi construído, cujo futuro está comprometido, um eventual levantamento do estatuto de habitação económica significando imediato aumento de rendas.
A campanha, que conta já com o apoio de políticos ligados ao Bronx (um congressista e um senador, ambos democratas), ganhou a simpatia do gabinete que gere a designação das candidaturas ao estatuto de património da cidade pretendido. Regras que obrigam a uma idade mínima dos edifícios a inscrever enquanto património apontam a uma fasquia de 50 anos. Porém, apontando o interesse cultural do edifício, a inscrição está garantida. Resta, agora, a aprovação...
O caso revela mais uma manifestação de cidadania que junta a vida cultural da cidade ao seu dia a dia. O arranque da campanha teve mediatização garantida, sobretudo depois de um expressivo artigo no New York Times, e flui agora pela blogosfera. O clima parece favorável... Kool Herc e seus “descendentes” só esperam um desfecho diferente do CBGB. Na verdade, ambos mereciam a inscrição como património, uma vez que foram primeira “casa” de dois entre os mais expressivos movimentos musicais nascidos na cidade. Terá o hip hop mais sorte que o punk?
Os interessados em ler mais, podem consultar o MySpace desta campanha.
O dueto
Um café e uma... Joni
 Depois de Paul McCartney para ali se mudar de armas e bagagens... Depois dos Sonic Youth cederem material para uma compilação... Agora é a vez de Joni Mitchell se render aos aromas discográficos da editora ligada à rede de cafés Starbucks. A cantora está apreparar um novo disco de originais (o seu primeiro desde 1998) que será editado em Setembro. O álbum de McCartney editado pela Starbucks foi intensamente tocado nos cafés e vendeu já 447 mil exemplares. 47% das vendas do disco tiveram lugar nos próprios cafés.
Depois de Paul McCartney para ali se mudar de armas e bagagens... Depois dos Sonic Youth cederem material para uma compilação... Agora é a vez de Joni Mitchell se render aos aromas discográficos da editora ligada à rede de cafés Starbucks. A cantora está apreparar um novo disco de originais (o seu primeiro desde 1998) que será editado em Setembro. O álbum de McCartney editado pela Starbucks foi intensamente tocado nos cafés e vendeu já 447 mil exemplares. 47% das vendas do disco tiveram lugar nos próprios cafés.
11º Queer Lisboa em Setembro
 A 11ª edição do Queer Lisboa (Festival de Cinema Gay e Lésbico) vai decorrer no Cinema São Jorge, de 14 a 22 de Setembro. As linhas mestras da programação podem ler-se no blogue que o festival criou este ano. Destaque, para já, para o filme de abertura A Casa de Alice (na foto), do brasileiro Chico Teixeira e para o de encerramento, uma versão desafiante do clássico The Picture of Dorian Gray, do norte-americano Duncan Roy. Esta edição abre uma nova secção dedicada à música. O Queer Pop inclui três sessões comentadas de telediscos e dois documentários.
A 11ª edição do Queer Lisboa (Festival de Cinema Gay e Lésbico) vai decorrer no Cinema São Jorge, de 14 a 22 de Setembro. As linhas mestras da programação podem ler-se no blogue que o festival criou este ano. Destaque, para já, para o filme de abertura A Casa de Alice (na foto), do brasileiro Chico Teixeira e para o de encerramento, uma versão desafiante do clássico The Picture of Dorian Gray, do norte-americano Duncan Roy. Esta edição abre uma nova secção dedicada à música. O Queer Pop inclui três sessões comentadas de telediscos e dois documentários.
5º Doc Lisboa em Outubro
 A quinta edição do Doc Lisboa foi oficialmente apresentada na semana passada. Decorre de 18 a 28 de Outubro e uma das novidades corresponde a uma maior rede de salas ao serviço do festival, que este ano se alarga da Culturgest ao Cinema São Jorge e Cinema Londres. Outra das novidades é o programa Maratonadoc, mostra ininterrupta dos 15 filmes preferidos dos comissários, a mostrar no último dia do certame. A informação já disponível pode ser consultada no site oficial do festival. Destaque, para já, para dois filmes que já deram que falar: Sicko de Michael Moore e When The Levees Broke: A Requiem In Four Acts, de Spike Lee (na foto), este sobre a cidade de New Orleans depois do Katrina.
A quinta edição do Doc Lisboa foi oficialmente apresentada na semana passada. Decorre de 18 a 28 de Outubro e uma das novidades corresponde a uma maior rede de salas ao serviço do festival, que este ano se alarga da Culturgest ao Cinema São Jorge e Cinema Londres. Outra das novidades é o programa Maratonadoc, mostra ininterrupta dos 15 filmes preferidos dos comissários, a mostrar no último dia do certame. A informação já disponível pode ser consultada no site oficial do festival. Destaque, para já, para dois filmes que já deram que falar: Sicko de Michael Moore e When The Levees Broke: A Requiem In Four Acts, de Spike Lee (na foto), este sobre a cidade de New Orleans depois do Katrina.
SONDAGENS: uma novidade!
 Aproveitando os mais recentes recursos logísticos do Blogger, o Sound + Vision vai começar a propor aos seus visitantes algumas sondagens. Não será uma ciência de gosto(s), nem um mecanismo de inclusões ou exclusões. Apenas um jogo (com tudo o que o jogo pode envolver de lúdico) que nos poderá permitir detectar algumas tendências desta paisagem virtual em que nos movemos. E porque este é o "Ano Bowie" do nosso blog, começamos por perguntar "qual é o melhor filme de David Bowie?" — o espaço para as votações está aqui mesmo ao lado, antes das informações de agenda.
Aproveitando os mais recentes recursos logísticos do Blogger, o Sound + Vision vai começar a propor aos seus visitantes algumas sondagens. Não será uma ciência de gosto(s), nem um mecanismo de inclusões ou exclusões. Apenas um jogo (com tudo o que o jogo pode envolver de lúdico) que nos poderá permitir detectar algumas tendências desta paisagem virtual em que nos movemos. E porque este é o "Ano Bowie" do nosso blog, começamos por perguntar "qual é o melhor filme de David Bowie?" — o espaço para as votações está aqui mesmo ao lado, antes das informações de agenda.terça-feira, julho 24, 2007
Laszlo Kovacs (1933-2007)
 1972 — Tatum O'Neal e o seu pai, Ryan O'Neal, protagonizam um dos mais belos (e mais esquecidos) títulos da filmografia de Peter Bogdanovich: Lua de Papel/Paper Moon. A direcção fotográfica, num admirável preto e branco reminiscente dos tempos mais primitivos do cinematógrafo, tem assinatura de Laszlo Kovacs, cinematographer de origem húngara — nascido a 14 de Maio de 1933, Kovacs faleceu no passado domingo, dia 22.
1972 — Tatum O'Neal e o seu pai, Ryan O'Neal, protagonizam um dos mais belos (e mais esquecidos) títulos da filmografia de Peter Bogdanovich: Lua de Papel/Paper Moon. A direcção fotográfica, num admirável preto e branco reminiscente dos tempos mais primitivos do cinematógrafo, tem assinatura de Laszlo Kovacs, cinematographer de origem húngara — nascido a 14 de Maio de 1933, Kovacs faleceu no passado domingo, dia 22.Companheiro de outro exilado húngaro, Vilmos Zsigmond (n. 1930), Kovacs foi um mestre na revalorização das fontes naturais de luz, tendo o seu nome associado a alguns filmes emblemáticos das transformações por que passou o cinema americano ao longo da década de 60, nomeadamente Targets (1967), também de Bogdanovich (com quem
 colaborou, ao todo, em cinco longas-metragens), Aquele Dia Frio no Parque (1968), de Robert Altman, e ainda Easy Rider (1969), de Dennis Hopper, filme de culto, decisivo para a sua afirmação profissional. Assinou ainda as imagens de títulos como Shampoo (1974), de Hal Ashby, New York, New York (1976), de Martin Scorsese, e A Rosa (1978), de Mark Rydell; os seus últimos trabalhos foram Miss Detective (2000), de Donald Petrie, Amor Sem Aviso (2002), de Mark Lawrence, e Torn from the Flag (2006), de Endre Hules e Klaudia Kovacs (este último um documentário sobre as convulsões políticas na Hungria, em 1956, que Kovacs filmou com Zsigmond e na sequência das quais emigrou para os EUA). Membro da American Society of Cinematographers, Kovacs recebeu o respectivo prémio de carreira em 2002. Insolitamente, nos Oscars, não só nunca ganhou, como nem sequer obteve uma única nomeação pelos mais de 50 filmes que fotografou.
colaborou, ao todo, em cinco longas-metragens), Aquele Dia Frio no Parque (1968), de Robert Altman, e ainda Easy Rider (1969), de Dennis Hopper, filme de culto, decisivo para a sua afirmação profissional. Assinou ainda as imagens de títulos como Shampoo (1974), de Hal Ashby, New York, New York (1976), de Martin Scorsese, e A Rosa (1978), de Mark Rydell; os seus últimos trabalhos foram Miss Detective (2000), de Donald Petrie, Amor Sem Aviso (2002), de Mark Lawrence, e Torn from the Flag (2006), de Endre Hules e Klaudia Kovacs (este último um documentário sobre as convulsões políticas na Hungria, em 1956, que Kovacs filmou com Zsigmond e na sequência das quais emigrou para os EUA). Membro da American Society of Cinematographers, Kovacs recebeu o respectivo prémio de carreira em 2002. Insolitamente, nos Oscars, não só nunca ganhou, como nem sequer obteve uma única nomeação pelos mais de 50 filmes que fotografou.







