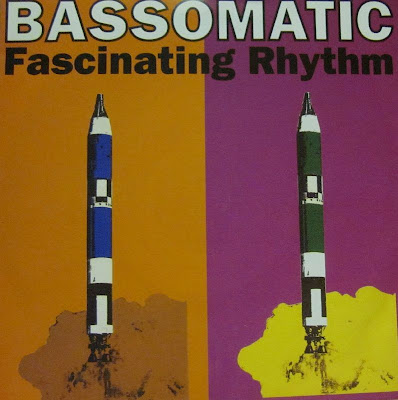Editado em março de 1982, The Anvil foi o segundo álbum dos Visage, o grupo liderado por Steve Strange, figura central da noite londrina em finais dos anos 70 e um dos rostos do movimento neo romântico (que então revelou nomes como os Duran Duran, Spandau Ballet ou Classix Nouveaux). Os Visage juntavam na altura músicos de bandas como os Ultravox e Magazine em volta de Steve Strange e Rusty Egan (o DJ das famosas Bowie Nights no Blitz, em Londres) e The Anvil seria o último disco deste projeto a contar com a colaboração (preciosa) de Midge Ure. A assinalar os 30 anos da edição do álbum recordamos aqui o primeiro single extraído do seu alinhamento. Aqui fica o teledisco que então acompanhou o lançamento de The Damned Don't Cry.
sábado, março 31, 2012
Nos 40 anos de Pink Moon (1)
Naquele dia, fora da pequena cidade onde vivia, o mundo quase não deu pelo seu desaparecimento. Quando foi encontrado morto no seu quarto na casa dos seus pais, na manhã de 25 de Novembro de 1974, Nick Drake tinha a seu lado um exemplar de O Mito de Sísifo (1) de Camus e, no gira-discos, uma gravação dos Concertos Brandeburgueses de Bach. A seu lado um frasco vazio de comprimidos. Sem uma investigação forense maior, uma certidão foi emitida apontando envenenamento agudo por Amitriptilina como causa da morte. Como descreve Amanda Petrusich no livro que dedica ao álbum Pink Moon, a palavra “suicídio” surge discreta, entre parênteses, no fim da linha. Nick Drake não deixou qualquer nota de despedida. Pelo que a causa da sua morte é debate que nunca conhecerá resposta, havendo uma mitologia que defende que o jovem músico, então com apenas 26 anos, decidira o seu fim, outra acreditando numa tese de acidente provocado pela acumulação dos efeitos da medicação que tomava.
Um obituário foi publicado num dos semanários da imprensa musical britânica dias depois. Mas contra o cenário que assistiu aos recentes desaparecimentos de Amy Winehouse ou Whitney Houston, a morte de Nick Drake não desencadeou a curiosidade dos compradores de discos. Vivera praticamente longe dos olhares de todos e morrera quase invisível.
Tirando os três álbuns editados entre 1969 e 1972 e as gravações adicionais que com o tempo foram surgindo noutros discos e antologias, Nick Drake é uma figura cuja passagem pelo mundo teve ténue registo. Além das fotografias que dele conhecemos são raras as imagens em filme e poucas também as gravações da sua voz. Entrevistas deu muito poucas e escassos foram também os artigos que sobre ele a imprensa publicou quando era vivo. “Deixou muito pouco além do legado da sua música... Nunca escreveu nada, nunca manteve um diário, raramente escrevia até o seu nome nos livros que tinha. Era como se não quisesse que nada seu ficasse além das suas canções” confirmou em tempos Molly Drake, a sua mãe. (2) Contraste abissal com o que vemos no presente. Ao ponto de haver hoje vários livros dedicados à sua biografia e discografia, documentários (um deles com a voz de Brad Pitt (3)), várias edições discográficas e de ser certo um destaque transversal na imprensa musical sempre que surge nova antologia ou reedições.
 Quase ignorado em vida, Nick Drake tornou-se com o tempo num fenómeno de culto e hoje as suas canções tanto moram em anúncios de televisão, como na banda sonora de filmes ou até na música ambiente de cafés (em Nick Drake: The Complete Guide To His Music, Peter Hogan conta que John Cale, que colaborou nas sessões de Bryter Later, disse uma vez que as ouve sempre que vai a um Starbucks). Entre os que já o mencionaram como figura que admiram contam-se nomes como os de Elton John, Peter Buck (R.E.M.), Matt Johnson (The The), Elvis Costello, Kate Bush, os Belle & Sebastian, Tom Verlaine ou Stephen Duffy ou atores como Brad Pitt ou Jennifer Aniston.
Quase ignorado em vida, Nick Drake tornou-se com o tempo num fenómeno de culto e hoje as suas canções tanto moram em anúncios de televisão, como na banda sonora de filmes ou até na música ambiente de cafés (em Nick Drake: The Complete Guide To His Music, Peter Hogan conta que John Cale, que colaborou nas sessões de Bryter Later, disse uma vez que as ouve sempre que vai a um Starbucks). Entre os que já o mencionaram como figura que admiram contam-se nomes como os de Elton John, Peter Buck (R.E.M.), Matt Johnson (The The), Elvis Costello, Kate Bush, os Belle & Sebastian, Tom Verlaine ou Stephen Duffy ou atores como Brad Pitt ou Jennifer Aniston. O que explica o seu estatuto? “A morte tem um papel em tudo isto, nem que pelo facto de o ter congelado numa juventude perpétua; a sua boa aparência nunca será atacada pela idade e a sua música nunca entrará em declínio. Com a dis–·”tância do tempo a timidez de Nick transformou-se num carisma enigmático e o seu destino infeliz é agora uma extensão natural do romantismo da sua música”, defende Peter Hogan. (4) Para Amanda Petrusich, “o (presumível) suicídio validou a sua música como o de [Kurt] Cobain (5) o faria quase duas décadas depois, conferindo às suas canções crédito e peso. E agora, quando ouvimos Drake a cantar sobre como se sente ansioso, solitário e invisível confiamos no seu desespero. Quando ouvimos Pink Moon é impossível não sentir morte, enorme e iminente, inevitável e infinita, cada vez mais perto” (6)
1 – Ensaio filosófico de 1942 de Albert Camus que reflete sobre o suicídio.
2 – in Pink Moon, de Amanda Petrusich (Continuum, 2007), pág 4
3 – De título ‘Lost Boy: In Search of Nick Drake’, emitido pela BBC 2 em 2004
4 – in Nick Drake: The Complete Guide to his Music, de Peter Hogan (Omnibus Press, 2009), pág 2
5 – Vocalista dos Nirvana e ícone maior dos anos 90, suicidou-se em 1994
6 - in Pink Moon, de Amanda Petrusich (Continuum, 2007), pág 3
Música contemplativa (parte 2)
Discografia David Sylvian - 18
'Flux & Mutability' (álbum com Holger Czukay), 1989
O trabalho conjunto com Holger Czukay no álbum de 1988 Plight + Premonition teve continuação direta em 1989 em Flux & Mutability, um segundo disco gerado em condições de trabalho semelhantes, chamando contudo outros músicos a estúdio, entre eles o guitarrista Michael Karoli, o percussionista Jaki Liebezeit (que, entre outros, trabalhara com os Can e Brian Eno) e o trompetista e compositor Markus Stockhausen (filho de Karlheinz Stockhausen). Mais elaboradas que as composições do álbum anterior, as duas peças que aqui se apresentam aprofundaram a relação de Sylvian com os métodos da improvisação, embora com resultados menos interessantes que os revelados no encontro com Czukay registado em 1988.
'Flux & Mutability' (álbum com Holger Czukay), 1989
O trabalho conjunto com Holger Czukay no álbum de 1988 Plight + Premonition teve continuação direta em 1989 em Flux & Mutability, um segundo disco gerado em condições de trabalho semelhantes, chamando contudo outros músicos a estúdio, entre eles o guitarrista Michael Karoli, o percussionista Jaki Liebezeit (que, entre outros, trabalhara com os Can e Brian Eno) e o trompetista e compositor Markus Stockhausen (filho de Karlheinz Stockhausen). Mais elaboradas que as composições do álbum anterior, as duas peças que aqui se apresentam aprofundaram a relação de Sylvian com os métodos da improvisação, embora com resultados menos interessantes que os revelados no encontro com Czukay registado em 1988.
sexta-feira, março 30, 2012
Novas edições:
Madonna, The Complete Studio Albums (1983-2008)
Madonna
"The Complete Studio Albums (1983-2008)"
Rhino
4 / 5
No mesmo momento em que chega MDNA, a discografia de Madonna conhece uma edição retrospetiva numa caixa que reúne os seus álbuns de estúdio editados entre 1983 e 2008. Todos? Bom, quase todos, de fora ficando um título algo “esquecido” que na verdade mora naquele espaço entre dois mundos que não permite uma “arrumação” precisa da sua identidade. É disco de estúdio, sem dúvida; mas será uma banda sonora? Ou nem por isso?... Falamos de I’m Breathless, disco editado em 1990 na sequência do filme Dick Tracy. Não é a “banda sonora original” do filme (que teve edição em nome próprio), mas inclui canções que o filme usa, assim como outras por si inspiradas. Who’s That Girl, de 1987, só tinha Madonna em parte do alinhamento (ou seja, não é um disco apenas seu). Evita, de 1997, é a expressão fiel da banda sonora do filme e não se limita à voz de Madonna (ou seja, também não é disco apenas seu). I’m Breathless é caso menos fácil de classificar... Será por isso que este álbum de 1990, que inclui o clássico Vogue e revela olhares mais próximos pelas tradições do teatro musical (e seus arredores), acaba fora deste olhar antológico? Salvo este episódio, que poderia dar à caixa antológica o sabor da (re)descoberta de um disco quase “perdido”, The Complete Studio Albums (1983-2008) é mesmo assim um olhar panorâmico sobre uma obra que, apesar de ocasionais momentos menores, se afirma como uma das mais sólidas, consistentes e personalizadas da história da música popular. O panorama começa em 1983 com Madonna, onde a presença das heranças diretas da noite nova-iorquina são evidentes, em Like A Virgin (1984) aprofundando-se uma relação com a canção pop que atinge patamares de maior solidez em True Blue (1986), o primeiro álbum verdadeiramente marcante como um todo na obra de Madonna (até então autora sobretudo de grandes episódios no formato de single). Depois de um álbum de remisturas (justificadamente ausente deste alinhamento), chegamos a Like a Prayer, onde Prince surge num dueto, a house brota nas entrelinhas de Express Yourself, o gospel no tema título e a fragilidade de um tom confessional marca Oh Father. Nos noventas Madonna brilha nos diálogos com as heranças da cultura house em Erotica (1992), conhece um episódio menos brilhante ao ensaiar diálogos com descendências do rhythm and blues em Bedtime Stories (1994) e assina uma das suas obras-primas em 1998, sob produção de William Orbit, em Ray Of Light. Nos anos zero encontra um patamar de diálogo entre uma sobriedade adulta entretanto conquistada e espaços de diálogo ocasional com a música de dança e electrónicas entre Music (2000) e American Life (2003) e revela novo momento de inspiração maior ao evocar ecos de memórias da vida noturna nova iorquina no belíssimo Confessions On A Dance Floor (2005), o disco que em Hung Up revelou não apenas um dos maiores êxitos da obra de Madonna mas também uma das raras ocasiões em que a música dos Abba conheceu descendência direta (na forma de um sample de Gimmie Gimmie Gimmie que é central à construção da canção). Na arrumação cronológica segue-se Hard Candy, o disco que em 2008 nasceu da vontade (já fora de tempo e, convenhamos, do seu território) de assimilar os universos da pop temperada a hip hop de escola Timbaland... Com faixas extra nos três primeiros álbuns (correspondendo às edições remasterizadas já antes editadas), apresentando os discos em miniaturas que reproduzem as capas originais, este percurso é uma ocasião para seguir um caminho. E verificar por que razão Madonna se transformou no ícone maior que hoje é. Resta depois regressar a MDNA para sentir que a vontade em vincar a todo o custo uma certa “juventude” fora de época (que algumas das canções mais dançáveis do novo disco) não só não repete a excelência (e a real motivação de reencontro com memórias) que fez de Confessions on A Dance Foor o seu melhor disco de alma noturna, como não segue as sugestões mais aconselháveis que fizeram de Music e American Life bons episódios de continuidade e acaba assim por repetir a desorientação de Hard Candy... Antes de gravar um novo álbum, há que refletir sobre a espantosa obra que aqui reencontramos.
Quem inspirava Turner?
A pequena sequência de salas que encontramos no piso inferior da Sainsbury Wing, da londrina National Gallery, dedica neste momento a sua atenção à obra de Turner. Mas sob um prisma diferente, colocando-o lado a lado com uma das suas referencias fulcrais: Claude.
De nome completo Claude Lorrain (1600-1680), o pintor francês foi reconhecido como o mais bem sucedido dos paisagistas do seu tempo, a sua obra estando representada em algumas das maiores coleções particulares da altura. Vivia-se uma época anterior à criação dos museus e era entre essas coleções que muitas vezes os jovens pintores tinham acesso a mestres de outros tempos. Foi numa coleção particular que Turner descobriu Claude. E a exposição deixa claro como os estudos que fez sobre algumas das suas obras se afirmaria marcante na definição de uma linguagem, sobretudo mais evidente na primeira etapa da sua carreira. Na imagem vemos uma paisagem romana pintada por volta de 1644/45 por Claude que está exposta na National Gallery, sob empréstimo da coleção particular de Isabel II.
Nesta sequência de imagens vemos três das obras de Joseph Mallord William Turner (1775 – 18 51) que podemos encontrar nesta exposição. São elas Modern Italy – The Pifferari, de 1851, Caernarvon Castle, de 1799 e Venice – The Canal Towards Fusina at Sunset, de 1819. Sob o título Turner Inspired, estas obras estarão ali patentes até 5 de junho.
O grande retrato de uma pequena ilha
Esta semana chegou às salas o documentário É Na Terra Não É Na Lua, de Gonçalo Tocha, que em 2011 se tornou no primeiro filme português a vencer o DocLisboa. “Estamos no espaço mais ocidental do território português e na mais distante (face ao continente) das ilhas dos Açores. São seis quilómetros e meio de comprimento por quatro de largura. 430 habitantes (em números já deste ano)” escrevi aqui por alturas da passagem do filme no DocLisboa.
Descrevi então este como um “olhar lento e longo. Com o ritmo e o tempo que as coisas certamente ali conhecem, um pouco longe de tudo. Atento aos espaços, às gentes, às palavras, aos olhares. Curioso na vontade de saber, familiar na forma de mostrar. Gonçalo e o técnico de som que o acompanhou chegaram ali como estranhos em terra estranha. Com o tempo sentiram-se a deixar de ser forasteiros. E o que a câmara nos mostra deixa claro que, aos poucos, o filme conseguiu encontrar um olhar conhecedor, vivido no local e tranquilo no dialogar com as suas gentes”. O filme de Gonçalo Tocha mostra, “pelo prisma pessoal de quem soube encontrar cumplicidades, um retrato terno, mas sóbrio, de uma ilha pequena cheia de histórias e memórias, mas também de vidas e factos do presente que, muitas vezes, mal se fazem escutar para lá do pequeno cais que as vagas constantemente sovam”.
Podem reler aqui o texto completo e também uma entrevista com o realizador.
Filmes pe(r)didos:
The Reflecting Skin, de Philip Ridley
por Daniel Barradas
Memórias de filmes afastados daquelas listas habituais que fazem a conversa de todos os dias. Filmes "perdidos". Ou se preferirem, "filmes pedidos"... Hoje lembramos The Reflecting Skin, filme de 1990 de Philip Ridley, que aqui é evocado por Daniel Barradas, designer e autor do blogue Actas do Pequeno Almoço. Um muito obrigado ao Daniel pela colaboração.
A criança espelho (no original The reflecting skin) estreou em Portugal no início dos anos 90, mas só o vi gravado da RTP2 numa cassete VHS alguns anos depois. É um filme visual e emocionalmente marcante que merecia ser mais conhecido.
The reflecting skin foi a longa metragem de estreia de Philip Ridley enquanto argumentista e realizador em simultâneo. Com a chuva de prémios e aclamação critica que recebeu na altura, parecia anunciar a chegada de um novo ”autor”. Mas, por diversos motivos (distribuição, (não) edição em vídeo e inflexão de carreira de Ridley para se concentrar na literatura infantil e escrita teatral), esta pequena pérola cinematográfica acabou esquecida e o impacto artístico de Ridley está hoje quase limitado ao Reino Unido.
O filme conta a história de Seth, um rapaz que, crescendo nas profundezas da América rural, interpreta o mundo (os horrores) ao seu redor com base numa mistura de mitologias e crenças populares. Suicídios, abortos secretos, cancros e pedofilia (o lado obscuro de uma sociedade fechada onde nada é falado) tornam-se mais facilmente explicáveis com anjos, demónios e vampiros. E é precisamente essa interpretação errónea que leva o rapaz a cometer uma (in)acção que o torna, também a ele, num pequeno "monstro".
Ridley tem sido comparado a David Lynch mas há algo bastante diferente nas criações de Ridley (também nos seus livros e peças de teatro) que é o facto de a acção ter lugar na "realidade" e todo o aspecto fantástico provir das memórias, sonhos e fantasias das personagens. O fascínio/beleza/terror provem das acções de personagens que vivem mentalmente numa outra realidade que não aquela em que se inserem. Ou, melhor explicado e resumido numa frase do filme: ”A inocência pode ser infernal”.
The reflecting skin teve recentemente edição alemã em Blu Ray. A sua peça de teatro The Pitchfork Disney, de 1991, está actualmente em reposição em Londres.
quinta-feira, março 29, 2012
Um navio que flutua...
Os Sigur Rós acabam de anunciar um regresso aos discos para muito em breve. Valtari será o nome do álbum, a editar em finais de maio. Como primeiros sinais do que podemos esperar do novo disco eis que apresentam o tema Ekki Múkk, acompanhado por um filme criado por Inga Birgisdóttir, irmã de Jonsi, o vocalista da banda.
Novas edições:
Madonna, MDNA
Madonna
"MDNA"
Live Nation / Universal
3 / 5
É quando se começa a jogar à defesa que se sente que algo pode estar a correr menos bem. E se se sente a necessidade de afirmar o que não faz falta dizer (como quando Nicki Minaj diz “there’s only one queen and that’s Madonna” em I Don't Give A), mais clara fica ainda a fragilidade da coisa... É o que acontece em MDNA, o novo disco de Madonna que, dominado por alguns erros maiores, acaba como um dos discos menores da sua discografia (facto triste quando, na verdade, até tinha na calha ingredientes suficientes para garantir precisamente o contrário). Mas vamos por partes... Há uns sete anos tudo corria de feição. Confessions on A Dance Floor juntava-se a Ray Of Light (1998) e a Erotica (1992) para sublinhar uma santíssima trindade de discos que celebravam uma relação entre a canção pop e a música de dança, em todos os casos revelando uma capacidade de sintonia com os contextos de época e chamando a bordo as colaborações certas na hora certa para o efeito certo... Hard Candy, um pouco depois (em 2008), deu primeiros sinais de desorientação num disco em que víamos Madonna a entrar num comboio, já em andamento, e que não era o seu (o da relação da pop com o hip hop, escola Timbaland e arredores). E correu mal, como se viu, resultando no pior momento da sua obra. Mas em 2012 parecem ainda mais evidentes esses ecos de desorientação num disco que acaba por não decidir exatamente para onde quer ir, perdendo o foco entre uma vontade de continuação da ideia de busca de elixires da eterna juventude através da assimilação da música de dança, e o desejo de aprofundar uma relação antiga com a canção pop que nos deu clássicos maiores como True Blue (1986), Like A Prayer (1989) e o perfeito Ray Of Light (1998), sendo de sublinhar que entre Music (2000) e American Life (2003) Madonna encontrara um interessante patamar de entendimento entre essas duas forças maiores. Não é grave que MDNA seja um disco dividido entre o desejo de não perder o contacto com a pista de dança e um saber na escrita de canções pop, que aqui se manifesta na excelência de temas como I’m A Sinner, Love Spent ou os belíssimos Falling Free e Masterpiece (este último o mais inspirado dos momentos do alinhamento do álbum), todos eles curiosamente produzidos (e em parte co-assinados) por William Orbit (o parceiro de trabalho nos dias de Ray Of Light). O que não faz sentido é que a abordagem à dança se faça segundo os caminhos seguidos pela produção de Benny Benassi ou Martin Solveig, que transportam parte do alinhamento para patamares de alguma (inesperada) banalidade tão comum em pistas de dança menos gourmet. Lembre-se aqui que, desde os dias de Holiday ou Into The Groove à celebração maior de Confessions On A Dance Floor, a relação de Madonna com a música de dança sempre foi ideia central na sua música. Mas mesmo tendo em Girl Gone Wild um potencial single poderoso e em Gang Bang (de William Orbit) outro dos instantes de maior brilho pop com sabor a noite dançante deste disco, a primeira metade do alinhamento parece procurar respostas a figuras como Lady Gaga ou Rhianna, facto que quando a voz de Nikki Minaj, no desinspirado I Don’t Give A, lança a frase acima referida, se materializa de forma menos feliz. Ao entrarmos na reta final do alinhamento (onde moram as quatro canções trabalhadas com William Orbit acima referidas) entramos num outro disco onde habita outro saber e segurança nos passos que toma, mostrando como se perdeu aqui a oportunidade de fazer o sucessor de Ray Of Light que tão melhor disco teria certamente gerado. A versão com extras junta ainda cinco temas que em nada ajudam o alinhamento e aprofundam os sinais de descaracterização que alguns dos episódios menores do alinhamento do álbum já revelavam. Entre o deve e o haver a média mostra mesmo assim um disco uns tantos (poucos, é verdade) furos acima do falhado Hard Candy. Mas num próximo álbum, se quiser manter um estatuto que é seu desde os oitentas, Madonna terá de ser um pouco mais... Madonna.
A paisagem, segundo David Hockney
 |
| Foto N.G. |
Entre as grandes exposições a não perder numa visita a Londres por estes dias conta-se a magnífica coleção de paisagens rurais que David Hockney tem neste momento expostas na Royal Academy Of Arts. Nas suas semanas finais (a exposição encerra dia 9 de abril), A Bigger Picture centra as suas atenções numa relação de mais de 50 anos do pintor com as paisagens. Mas foca as atenções numa série de olhares recentes, sobretudo em espaço rural britânico, apresentando uma série de quadros de grandes dimensões (alguns resultando mesmo de composições com mais que uma tela) onde o olhar capta a intensidade da luz e das cores dos espaços que visitou. A exposição inclui ainda alguns trabalhos recentes em vídeo (que podemos ver na última sala) e ainda uma série de criações recentes desenhadas com um iPad (depois impressas em telas de grandes dimensões).
Imagens de três das obras de David Houckeny expostas na Royal Academy Of Arts.
'Toy Story', mas num outro olhar...
O mais recente filme da campanha ‘See Films Differently’, da Volkswagen, tem a trilogia Toy Story como protagonista. O filme insere-se numa campanha de apoio ao cinema independente e no passado já “visitou” outras leituras inesperadas de títulos como A Guerra das Estrelas (comparada com O Feiticeiro de Oz) ou Ghostbusters – Caça Fantasmas, visto como uma reflexão sobre a crise da obesidade nos EUA. Neste novo filme uma frente de sala explica-nos a sua visão sobre Toy Story... É hilariante. E um bom exemplo do que é saber fazer publicidade. Este filme publicitário está neste momento em exibição nas salas de cinema britânicas, integrado entre os demais anúncios que antecedem a apresentação dos filmes em cartaz.
Filmes pe(r)didos:
Animal House, de John Landis
por Luis Filipe Rodrigues
Memórias de filmes afastados daquelas listas habituais que fazem a conversa de todos os dias. Filmes "perdidos". Ou se preferirem, "filmes pedidos"... Hoje lembramos Animal House, filme de 1978 de John Landis, que aqui é evocado por Luis Filipe Rodrigues, da Time Out. Um muito obrigado ao Luís pela colaboração.
Não foi fácil escolher um “filme pe(r)dido”, que fosse pertinente e estivesse esquecido. Optar por um trabalho menos celebrado de um realizador canonizado seria óbvio, mas lembrar um filme obscuro do qual ninguém ouviu falar seria inútil. Estava às voltas com isto até que me lembrei de Animal House (1978), a comédia absolutamente seminal de John Landis.
Apesar de ser o filme mais influente do americano e até continuar a fazer algum dinheiro, não deixou grande marca em Portugal. Enquanto fitas posteriores de Landis (The Blues Brothers, Trading Places, Coming To America…) foram exibidas até à exaustão nas tardes de fim-de-semana da nossa televisão, não me lembro de ter visto Animal House uma única vez quando era um garoto. Sucedâneos como Porky’s davam à noite quase todos os meses, mas Animal House nem vê-lo.
E é pena. Ao contrário de derivados como o referido Porky’s ou mais recentemente American Pie, Animal House é brilhante. Apesar do humor escatológico e de algumas piadas fáceis, tem um elenco formidável (John Belushi está em grande) e um subtexto político que o separa de outras comédias javardas. Qualquer cómico tem a obrigação de ter visto isto. Se mais gente o conhecesse por cá, talvez a nossa comédia não fosse o deserto que é…
quarta-feira, março 28, 2012
Strauss + Dudamel
Sem ofensa para Josef Haydn... A sua Sinfonia nº 103 (Rufo de timbales) fechou a primeira parte do concerto de Gustavo Dudamel no Grande Auditório da Fundação Gulbenkian (27 Março, 21h00), mas a noite foi, toda ela, dominada pelas sonoridades, angústias e êxtases de Richard Strauss.
Dois poemas sinfónicos — Don Juan e Assim Falou Zaratustra —, a abrir a primeira parte e a preencher a segunda, dominaram o alinhamento, numa viagem de reencontro e redescoberta de um tempo remoto ma non troppo, e também do seu novelo de linguagens, tempo em que pressentimos a decomposição de um mundo ainda crente nas suas mitologias ("românticas"), dando lugar a uma época de progressivo desencanto moral e fragilização do factor humano. A esse propósito, vale a pena lembrar que as duas obras foram compostas, respectivamente, em 1889 e 1896.
Dudamel veio, desta vez, com a admirável Orquestra Sinfónica de Gotemburgo, de que é director musical desde 2007 (a corrente temporada será a derradeira, assumindo então a condição de director honorífico). E, mais do que nunca, vale a pena referir a inadequação de alguns epítetos que se colaram à sua imagem de marca. Porventura faz sentido descrevê-lo como "fogoso", "exuberante" e "teatral"... Mas quantas dezenas de maestros não encaixam em tais adjectivos? Um pouco ao contrário, importa reter o que nele é, não apenas esplendorosa contenção, mas sobretudo metódica atenção às mais discretas nuances das obras interpretadas. Apetece mesmo dizer que há nele uma paixão pelo lirismo mais secreto das peças que dirige (mas é um facto que tal designação, ainda que sugestiva, corre o risco de atrair referências ou conotações em todo estranhas ao seu labor).
Ao lidar com Strauss, justamente, Dudamel expõe o que nele é, de uma só vez, assunção da herança romântica e angustiada decomposição das suas ilusões redentoras. Daí a abordagem, quer de Don Juan, quer de Assim Falou Zaratustra, na sua plenitude mais primordial. A saber: já não obras organizadas em partes, satisfazendo estruturas mais ou menos codificadas, antes deambulações arfantes e poéticas, estranhamente racionais, cujo desafio existencial se confunde com as singularidades da sua própria duração.
Qual a "mensagem", então? Como recebemos as contradições do "donjuanismo" e a violência metafórica de Nietzsche para um mundo agora (des)assombrado com a morte de Deus? Pois bem, como uma escrita não de "ilustração" temática, mas de incessante procura de cristalização de algum tema — no limite, cada obra elabora-se como uma longa frase cujo sujeito sentimos à deriva na própria sedução que a habita, imaginando a possibilidade de uma outra ordem. Não admira que, neste ambiente de convulsiva consciência de uma beleza sem transcendência, Haydn tenha soado um pouco como... Strauss. É um elogio.
Dito de outro modo: para a escolha do concerto do ano, 27 de Março passa a ser o novo 31 de Dezembro.
>>> Site oficial da Orquestra Sinfónica de Gotemburgo.
>>> Site oficial de Gustavo Dudamel.
Dois poemas sinfónicos — Don Juan e Assim Falou Zaratustra —, a abrir a primeira parte e a preencher a segunda, dominaram o alinhamento, numa viagem de reencontro e redescoberta de um tempo remoto ma non troppo, e também do seu novelo de linguagens, tempo em que pressentimos a decomposição de um mundo ainda crente nas suas mitologias ("românticas"), dando lugar a uma época de progressivo desencanto moral e fragilização do factor humano. A esse propósito, vale a pena lembrar que as duas obras foram compostas, respectivamente, em 1889 e 1896.
 |
| Richard Strauss (1864-1949) |
Ao lidar com Strauss, justamente, Dudamel expõe o que nele é, de uma só vez, assunção da herança romântica e angustiada decomposição das suas ilusões redentoras. Daí a abordagem, quer de Don Juan, quer de Assim Falou Zaratustra, na sua plenitude mais primordial. A saber: já não obras organizadas em partes, satisfazendo estruturas mais ou menos codificadas, antes deambulações arfantes e poéticas, estranhamente racionais, cujo desafio existencial se confunde com as singularidades da sua própria duração.
Qual a "mensagem", então? Como recebemos as contradições do "donjuanismo" e a violência metafórica de Nietzsche para um mundo agora (des)assombrado com a morte de Deus? Pois bem, como uma escrita não de "ilustração" temática, mas de incessante procura de cristalização de algum tema — no limite, cada obra elabora-se como uma longa frase cujo sujeito sentimos à deriva na própria sedução que a habita, imaginando a possibilidade de uma outra ordem. Não admira que, neste ambiente de convulsiva consciência de uma beleza sem transcendência, Haydn tenha soado um pouco como... Strauss. É um elogio.
Dito de outro modo: para a escolha do concerto do ano, 27 de Março passa a ser o novo 31 de Dezembro.
>>> Site oficial da Orquestra Sinfónica de Gotemburgo.
>>> Site oficial de Gustavo Dudamel.
terça-feira, março 27, 2012
Paper Bag Records: 10 canções oferecidas
Imagem de marca da produção musical independente do Canadá, a editora Paper Bag Records oferece várias antologias do seu catálogo, o último dos quais sob o signo das chamadas Paper Bag Sessions (Vol. 1). São 10 canções disponíveis para download, por intérpretes como The Rural Alberta Advantage, Austra e Elliott BROOD — exemplo em video: Lose It, Austra.
"John Carter" contra "Um Amor de Juventude"
John Carter e Um Amor de Juventude não têm, obviamente, a mesma visibilidade concedida pelo mercado cinematográfico. É apenas um exemplo, mas há nele um fortíssimo valor sintomático — este texto foi publicado no Diário de Notícias (25 Março), com o título 'Para onde vão as histórias de amor?'.
Uma das evidências mais propaladas do actual mercado cinematográfico é a predominância de público jovem. Distribuidores, exibidores, sociólogos ou jornalistas, quase todos se colocam facilmente de acordo para proclamar esse estado de coisas (nacional e internacional): os mais “velhos” quase deixaram de ir ao cinema, sendo os mais “novos” a garantir a maior parte da frequência das salas.
É uma afirmação empírica, pouco (ou nada) enraizada em sistemáticos estudos geracionais do consumo cinematográfico (ao contrário do que acontece, por exemplo, no mercado americano). É, sobretudo, uma afirmação cuja pertinência carece de ser confrontada com o dia a dia do mercado e respectivas opções de fundo. Entre as muitas perguntas que vale a pena (re)lançar, surge desde logo a que envolve a própria visibilidade que é dada a alguns (poucos) filmes, em detrimento de (muitos) outros. Isto porque, salvo melhor opinião, não é indiferente que um filme seja lançado em 80 ecrãs ou em... dois.
Exemplo próximo. Nas últimas semanas, todos soubemos (promoção televisiva, cartazes, etc.) que John Carter, superprodução americana, ia aparecer em salas de todo o país. Quem, entre os consumidores que foram de alguma maneira tocados pela campanha de John Carter, soube do lançamento de Um Amor de Juventude, de Mia Hansen-Love? Como é óbvio, não adianta fingirmo-nos distraídos: mal ou bem, as diferenças de escala fazem parte da dinâmica do mercado e a ocupação das salas não pode ser desligada de opções de programação e do poder efectivo de cada uma das empresas.
Mas não é isso que, aqui, está em causa. É, isso sim, a contradição visceral de um mercado que diz uma coisa e... pratica outra. Porquê? Porque Um Amor de Juventude é um objecto (aliás, temática e esteticamente muito interessante) que coloca em cena, não entidades abstractas, mas aqueles que nos dizem ser os protagonistas essenciais do próprio mercado – esta é, de facto, uma convulsiva história de amor entre dois jovens. Porque é que Um Amor de Juventude não é, então, promovido de acordo com essas suas características? E, já agora, porque é que, por vezes, o jornalismo que reconhece nos jovens a fatia essencial do consumo cinematográfico está automaticamente disponível para qualquer John Carter com grandes campanhas e tende a “esquecer” um frágil filme francês assinado por uma cineasta com nome difícil de pronunciar?
Não é fácil lidar com estas questões, até porque nada disto envolve qualquer demonização automática de todos os grandes espectáculos provenientes de Hollywood (alguns deles, hélas!, ocupando um lugar nobre na história cinematográfica das últimas décadas). O que está em causa é de outra ordem. Tem a ver com o desconhecimento que, em termos gerais, o mercado revela em relação à pluralidade dos seus públicos. Desconhecimento e, pior que isso, indiferença.
França, 2012
Notícias franceses, via Libération. As perguntas, formuladas por personalidades do meio artístico e cultural, são dirigidas a François Hollande, candidato socialista à Presidência da República. E têm como mote esta manchete: "E se falássemos (de) cultura?". Não é nenhuma magia, mas deixa-nos uma certeza que vale a pena registar: em França, terra do fait divers, considera-se pertinente questionar os candidatos a Presidente sobre os temas culturais. Outros usos, outros costumes. Voilà.
Dudamel na Gulbenkian
É hoje, 27 de Março, às 21h00: Gustavo Dudamel está de volta ao Grande Auditório da Fundação Gulbenkian, desta vez para dirigir a Orquestra Sinfónica de Gotemburgo, de que é director musical desde 2007 (funções que terminará no final da corrente temporada, permanecendo ligado à orquestra como director honorífico). O programa, incluído no ciclo "Wagner +", propondo o reencontro com o autor de Parsifal e as muitas ramificações da sua herança, está dominado por Richard Strauss e os seus poemas sinfónicos: Don Juan, a abrir, e Assim Falou Zaratustra, na segunda parte; a primeira encerra com a Sinfonia nº 103, de Joseph Haydn [video: Dudamel, com a Sinfónica de Gotemburgo, no Festival de Música das Canárias, em 2010].
segunda-feira, março 26, 2012
John Crawford: a insólita nudez
Os nus de John Crawford envolvem um insólito que participa do realismo mais estrito, combinado com a mais desconcertante abstracção. Ele próprio designa-os por "nus aéreos" e convenhamos que tal simplicidade é suficiente — trata-se de criar uma nova escala (hiper-humana, apetece dizer) em que a nitidez dos elementos figurativos parece gerar uma ordem das coisas em que tudo poderia participar de uma geometria apaziguada. Algumas fotos desta série podem ser vistas no FashionProduction; para conhecer a variedade do trabalho deste fotógrafo neozelandês (incluindo retratos e experiências com o iPhone), vale a pena visitar o seu site oficial.
"Lorax" ou o 3D ecológico
Com chancela da Universal Pictures, Lorax é um bom exemplo de uma animação exterior às "marcas" mais fortes deste domínio de produção (Pixar/Disney e DreamWorks) — este texto foi publicado no Diário de Notícias (22 Março), com o título 'Fábula, ecologia e pedagogia'.
Na história recente das aventuras (mais ou menos) infantis, as opções da animação digital cruzam-se cada vez mais com a aplicação das imagens a três dimensões. Aliás, em termos mediáticos, a lógica industrial dominante tem vindo a impor uma “colagem”, no mínimo, simplista: os desenhos animados já não se definiriam tanto pela sua especificidade visual, antes por aplicarem ou não o 3D... Apesar de tudo, há filmes como Lorax que, para além de uma sóbria aplicação do 3D, nos permitem compreender que a questão não está tanto no aparato tecnológico como na muito simples (?) arte de contar histórias.
É bem certo que, no mercado português, a estreia de Lorax vem agravar uma situação profundamente discutível, já que prevaleceu a opção de não lançar nenhuma cópia com as vozes com que o filme foi concebido (não houve, pelo menos, projecção para a imprensa da versão original), entre as quais figuram Danny DeVito, Zac Efron e Taylor Swift. O problema torna-se tanto mais sensível quanto, para além da falta de espessura do som dos diálogos, sem verdadeira dimensão cénica, parecendo acontecer sempre no mesmo espaço reduzido, o trabalho de misturas apresenta-se francamente deficiente (por exemplo, é quase impossível decifrar as palavras da primeira canção do filme).
Seja como for, Lorax resiste a todos esses percalços, permitindo-nos reencontrar o sentido de fábula do livro clássico de Dr. Seuss em que se baseia. A dimensão ecológica da história do menino que quer encontrar uma “árvore verdadeira” adquire, assim, uma renovada energia, mostrando que é possível ser-se subtil e pedagógico sem tratar as crianças como inevitáveis patetinhas e, sobretudo, sem sujeitar crianças e adultos a sermões paternalistas.
"Sangue do Meu Sangue" na RTP
Depois do filme e do DVD, a série televisiva: Sangue do Meu Sangue já passou na RTP — este texto foi publicado no Diário de Notícias (23 Março), com o título 'Sangue português'.
Termina hoje [23 Março] à noite, na RTP1, a apresentação de Sangue do Meu Sangue, de João Canijo. Depois da sua passagem nas salas de cinema, o filme ressurgiu, assim, no formato de série televisiva (três partes), demonstrando algo de muito básico: é possível construir pontes de colaboração e cumplicidade entre cinema e televisão, preservando as suas especificidades, sem que cada uma das entidades se dissolva nas regras da outra (vale a pena referir que, também na RTP, se anuncia a passagem da série Florbela, de Vicente Alves do Ó, cuja versão cinematográfica chegou recentemente às salas).
Não se trata, entenda-se, de encontrar aqui um qualquer padrão universal, “obrigatório” para o cinema português. Já basta o que basta... e atrevo-me a pensar que estamos todos cansados das soluções “milagrosas” que ignoram a pluralidade intrínseca da criação cinematográfica (e televisiva!).
Trata-se, isso sim, de sublinhar o facto simples, mas essencial, de ainda haver opções de programação, nomeadamente da ficção audiovisual portuguesa, que resistem à ditadura narrativa, estética, financeira e publicitária da telenovela. Não há nenhuma razão, nem cultural nem social, que legitime tal domínio. Dito de outro modo: ceder à telenovela o lugar central das imagens (e sons) não resulta de nenhum destino incontrolável, mas sim de escolhas que, mais do que nunca, importa questionar.
Infelizmente, com honrosas excepções, a nossa classe política (direitas e esquerdas confundidas) tem-se distinguido por uma lamentável indiferença perante a violência cultural que esta conjuntura envolve. Que há mais de trinta anos se discuta as bases de produção do cinema português sem ter em conta o “efeito-telenovela”, eis a cegueira instalada.
E não vale a pena alimentar ilusões: não será o admirável Sangue do Meu Sangue que vai resolver qualquer questão de fundo. Em todo o caso, a mensagem não podia ser mais clara: é possível falar do que somos sem ceder aos lugares-comuns “telenovelescos” e, mais do que isso, sem menosprezar uma relação inteligente com o espaço televisivo. Afinal, Ingmar Bergman lançou o seu Cenas da Vida Conjugal (filme e série) há apenas... 39 anos.
domingo, março 25, 2012
Cut Off Your Hands: pós-punk neozelandês
São da Nova Zelândia, têm gosto em usar o emblema do pós-punk e adoptaram um daqueles nomes de... cortar à faca: Cut Off Your Hands ou, se quisermos simplificar, COYH. Com o seu segundo álbum, Hollow, não se limitam a confirmar as ambições do primeiro (You & I, 2008), demonstram ainda uma agilidade irónica que se reflecte na encenação em formato de teledisco. Um belo exemplo, digital ma non troppo: Fooling no One.
Antonio Tabucchi (1943 - 2012)
Escritor italiano, nascido em Pisa, a 24 de Setembro de 1943, Antonio Tabucchi foi um dos grandes tradutores e especialistas da obra de Fernando Pessoa — faleceu em Lisboa, vítima de cancro, no dia 25 de Março.
De formação com fortes raízes francófonas, foi na Sorbonne, em Paris, que Tabucchi descobriu a escrita de Pessoa. Seria o princípio de um longo envolvimento com o universo pessoano e também com Portugal que, para ele, era o "país de adopção". Publicou o primeiro romance, Piazza d'Italia, em 1975, isto já depois de se ter formado, em 1969, com uma tese sobre "O surrealismo em Portugal". Nocturno Indiano, cuja primeira edição data de 1984 (Prémio Médicis, em França, de melhor romance estrangeiro), foi um livro decisivo para o seu reconhecimento internacional, podendo o seu dispositivo dramático — uma estrangeiro numa terra estranha — definir uma das matrizes essenciais de toda a sua obra. Seria também o primeiro dos seus romances a ser adaptado ao cinema, por Alain Corneau, numa produção de 1989 protagonizada por Jean-Hughes Anglade. Entre as suas versões cinematográficas, destacam-se ainda O Fio do Horizonte (1993), de Fernando Lopes, uma reflexão intimista sobre a morte, com Claude Brasseur, e Afirma Pereira (1995), de Roberto Faenza, com Marcello Mastroianni a assumir a personagem de um jornalista nos primeiros anos da ditadura salazarista. Cronista de jornais como o Corriere della Sera e El Pais, o discurso de Tabucchi manteve sempre uma especial atenção à actualidade política, nomeadamente através de posições de severa crítica da governação de Silvio Berlusconi. Era professor de literatura portuguesa na Universidade de Siena. O seu derradeiro livro, O Tempo Envelhece Depressa, será lançado em Abril, pela editora Dom Quixote.
>>> Obituário no Libération.
>>> O último artigo de Antonio Tabucchi: "'Desberlusconizar' Italia" (El Pais).
Sócrates em Paris — o crime
1. Com o folclore televisivo em torno do congresso do PSD, ficámos a saber que o facto de José Sócrates estar a viver em Paris já não é apenas motivo de caricatura mais ou menos boçal. Passámos a um novo patamar da infâmia: viver em Paris pode ser — é-o, em todo o caso, no caso do ex-primeiro-ministro de Portugal — um automático motivo de suspeição, porventura um índice seguro de qualquer coisa de criminoso... Sem esquecer que, na miséria mental portuguesa, estar em Paris e, ainda por cima, estudar filosofia, corresponde à mais exuberante degradação moral.
2. Para a minha geração, Paris foi (continua a ser, hélas!) uma referência simbólica em que se cruzam a nobreza herdada da história plural da humanidade e os restos de utopia que o presente ainda sabe conter. Ver (e ouvir, minha Nossa Senhora!) a cidade de Paris tratada como uma aldeia estúpida, perdida no mapa da ignomínia, é qualquer coisa que ultrapassa a pura ofensa — é também sintoma de uma mediocridade mediática e política que se passeia, impune, pelos lugares do nosso quotidiano.
3. Nada disto tem a ver com a avaliação, seja ela qual for, que qualquer cidadão possa fazer da prática política de José Sócrates. O que está em causa é a contaminação do espaço da comunicação (social???) por jogos florais deste género que, todos os dias, ensinam uma atitude de menosprezo e sarcasmo em relação a tudo e a todos. Que ninguém reaja, formal e oficialmente, a este "anti-socratismo" primário (incluindo o Partido Socialista), eis o que nos relembra que não vale a pena ter esperança de a classe política enfrentar a degradação corrente dos valores humanos. Ou será que os membros dessa classe se julgam exteriores às exigências do humanismo?
sábado, março 24, 2012
Amor & realismo
Será que ainda existe uma via realista para filmar o amor? A pergunta justifica-se, antes de tudo o mais, por um fascinante paradoxo: não é a pulsão amorosa um militante agente de todos os irrealismos? Como filmar, então, à flor da pele, aquilo que, por princípio, nos lança no território sem fronteiras do impossível?
Um Amor de Juventude, de Mia Hansen-Love, constitui uma bela resposta a tais interrogações: um filme posto em marcha por um amor louco entre dois jovens, mas que vai evoluindo sem nunca perder a dimensão linear, apetece dizer pedagógica, de um olhar atento às atribulações sociais de usos e costumes. Tendência eminentemente francesa, quanto mais não seja porque nela se exprime a agilidade "sociológica" de certas vias do cinema contemporâneo, sem nunca alienar a riquíssima herança romanesca que passa por autores como Ophuls, Renoir, Guitry, Truffaut e Téchiné — afinal, a tardição ainda é o que era.
>>> Un Amour de Jeunesse — texto de Jacques Mandelbaum (Le Monde).
O jornalismo que pensa
Vemos (e ouvimos, santo Deus...) algumas notícias televisivas sobre os crimes de Toulouse e não podemos deixar de perguntar: será que alguns jornalistas sentem que estão a relatar um resumo arfante do mais recente filme de Sylvester Stallone? Há, em todo o caso, um jornalismo que pensa e que arrisca lidar com o choque. Não para chocar por chocar, antes para tentar encontrar pontos de paragem e reflexão para lidarmos com a brutalidade do mundo. O Libération, por exemplo, na sua edição de fim de semana (24/25 de Março), pergunta como é que alguém se transforma em Mohamed Merah — é também uma maneira de dizer que vivemos todos em devir, sem que nenhum rótulo definitivo possa resumir a complexidade do que somos, fazemos ou pensamos.
Bassomatic, 1990
A poucos dias da chegada de um novo disco de Madonna que assinala o seu reencontro com William Orbit (figura central em Ray Of Light, de 1998), recordamos aqui os Bassomatic, um projeto que o músico e produtor manteve em inícios dos anos 90. Este é o teledisco que acompanhou em 1990 o single Fascinating Rhythm, o tema mais bem sucedido entre os que foram extraídos para single a partir do alinhamento do álbum Set The Controls For The Heart Of The Bass.
Nos 75 anos de Philip Glass (7)
Continuamos a publicação integral de um extenso texto sobre o compositor Philip Glass publicado no suplemento Q. do Diário de Notícias, assinalando os seus 75 anos. O texto, com o título 'Acordar cedo e trabalhar todo o dia é o segredo de Philip Glass' foi publicado a 28 de janeiro.
“Glass pode ter-se tornado um compositor de ópera por acaso, mas está a definir um rumo nos seus termos. Os seus temas são escolha sua e ele procura as circunstâncias para fazer com que os trabalhos para o palco sejam viáveis. É o oposto da situação com o seu trabalho orquestral, que tem resultado de respostas frutíferas a vários pedidos.” (49)
A abertura de Glass à música para orquestra não aconteceu, de facto, como fruto de uma demanda pessoal, mas de desafios que lhe lançaram, muitos deles tendo na figura do maestro Dennis Russel Davies um importante parceiro de trabalho. Antes mesmo de ensaiar pela primeira vez o formato da sinfonia, experimentou em finais dos anos 80 o desafio de criar um concerto para violino, que compôs tendo em mente a figura do seu pai, criando algo de que ele tivesse gostado. Outros concertos, como o Tirol Concerto (2000) ou o Concerto para Violoncelo (2001) surgiram de encomendas concretas, a primeira do gabinete de turismo tirolês, a segunda para o Festival de Música de Pequim.
A sua primeira Sinfonia data de 1991 e representa uma reflexão nascida de momentos do álbum histórico Low, que David Bowie criou (contando com importante colaboração de Brian Eno) em 1977. Uma segunda sinfonia centrada nos universos de Bowie e Eno surgiria em 1994 na forma da Heroes Symphony.
O relacionamento próximo com figuras (e formas) da música pop é uma característica antiga e recorrente ao longo da obra de Philip Glass. Em 1983 colaborou com David Byrne (50) na composição de A Gentleman’s Honour, canção que integrou a música para The Photographer (1983). Três anos depois, a Byrne juntou as presenças de nomes como Suzanne Vega (51), Laurie Anderson (52), Paul Simon (53) ou Linda Rondstat (54) para criar Songs from Liquid Days, um ciclo de canções que representa aquilo que podemos ver como a maior aproximação da música de Glass face aos universos da música pop. Escreveu depois uma canção para a voz de Mick Jagger (55) e uma outra para Natalie Merchant (56). Fez arranjos para Marisa Monte (57) e Pierce Turner (58). Criou um ciclo para poemas de Leonard Cohen (59). Colaborou por duas vezes com Aphex Twin (60) e remisturou uma canção dos S-Express (61). Produziu e tocou com os Polyrock (62). Em 2003, o álbum Glasscuts apresentava remisturas de temas seus por músicos e DJs latino-americanos. Neste momento está a ser preparado o lançamento de um novo disco de remisturas, este com Beck entre os protagonistas. Ao mesmo tempo fez-se referência para novos e talentosos jovens compositores. Editou na Point Music um disco de Arthur Russell (63). E entre os que consigo trabalharam (e hoje o admiram) conta-se o promissor Nico Muhly (64).
A sua relação com os universos e figuras da música pop é de resto antiga. “No início dos anos 70 toquei muito com o ensemble na Alemanha e grupos como os Kraftwerk ou os Can tinham um bom relacionamento comigo, de franco diálogo.” (65). E é também sabido que entre uma das plateias que assistiram a Music with Changing Parts numa digressão europeia em inícios dos setentas, Bowie e Eno estava na plateia a assistir. Glass diz mesmo que o relacionamento com a pop é “gratificante” e que sempre o entusiasmou. De resto, concluía assim essa conversa: “Esta dicotomia que separa a música popular da clássica é recente! Os primeiros bailados de Stravinsky não seriam possíveis sem os estudos sobre a música popular russa de Rimsky Korsakov. Stravinsky trouxe para uma linguagem sinfónica as raízes da música popular do seu tempo. De certo modo continuo essa tradição. Há um puritanismo protecionista em relação à música clássica que me assusta. O diálogo entre as diversas músicas é entusiasmante e produtivo.” (66) Glass é, de resto, uma figura que não esgota a sua atenção pela música no ato de compor e interpretar o que escreve. Apesar de etapas ligadas a editoras como a CBS ou a Nonesuch, sempre teve editoras discográficas (primeiro a Catham Square, nos anos 70, mais tarde a Point Music, um selo do grupo Universal, nos anos 90 e, hoje em dia, a Orange Mountain Music).
Em inícios dos anos 80, num episódio do documentário televisivo Four American Composers, realizado por Peter Greenaway, Philip Glass descrevia assim os admiradores da sua música: “Há quem goste porque é barulhenta, e quem goste porque é rápida, há quem goste porque é muito clássica, há quem goste porque não é clássica, há quem goste porque soa a música indie e quem goste porque acha que não soa a música indie... Tem tudo a ver com a idade de cada um e com o que cada pessoa traz à música.” E deste aparente paradoxo nasceu uma voz que, transcendendo as fronteiras de género da música, podemos antes encarar como uma figura do nosso tempo.
49 - in Glass, A Portrait, de Robert Maycock, Sanctuary, 2002, pag 129
50 – David Byrne (n. 1952) Ex-vocalista dos Talking Heads, é um dos mais aclamados músicos do nosso tempo e também editor discográfico. Trabalhou com Philip Glass em The Photographer (onde assina a letra de A Gentleman's Honour) e Songs From Liquid Days (onde co-assina Liquid Days e Open The Kingdom).
51 – Suzanne Vega - Autora das letras de Lightning e Freezing, em Songs From Liquid Days
52 – Laurie Anderson - Autora da letra de Forgeting, em Songs From Liquid Days. É uma das vozes na gravação em disco da ópera Civil Wars (edidada em 1999).
53 – Paul Simon - Autor da letra de Changing Opinio, em Songs From Liquid Days.
54 – Linda Rondstat - Voz de Freezing e Forgeting, em Songs From Liquid Days. É a voz também na gravação em disco de 1000 Airplanes On The Roof.
55 – Mick Jagger - Vocalista dos Rolling Stones, canta a versão original de 'Streets of Berlin' na banda sonora do filme 'Bent', onde surge também como ator.
56 – Natalie Merchant - Canta 'Planctus', canção de Philip Glass estreada em 1997
57 – Marisa Monte - Glass assina o arranjo de 'Ao Meu Redor'
58 – Pierce Turner - Philip Glass fez arranjos de várias canções dos dois primeiros álbuns a solo do músico.
59 - Leonard Cohen - Glass compôs em 2007 um ciclo de canções a partir de poemas do 'Book of Longing' de Cohen
60 – Aphex Twibn- Colaborou com Glass em 'Icct Hedral', tema editado no EP 'Donkey Rhubarb'. Assinou depois uma remistura de 'Heroes' de Bowie, tomando como ponto de partida a abordagem à canção segundo Philip Glass na sua 'Heroes Symphony'.
61 – S-Express- Philip Glass assinou uma remistura de 'Hey Music Lover', editada em máxi-single em 1989.
62 – Polyrock - Banda new wave nova iorquina, contou com colaborações de Glass nos seus dois primeiros álbuns
63 – Arthur Russell - Glass editou 'Another Thought' na sua editora Point Music, em 1994
64 – Nico Muhly - Compositor norte-americano, trabalhou algum tempo nos Looking Glass Studios.
65 – in DN, 30 de Outubro de 1996
66 – ibidem
“Glass pode ter-se tornado um compositor de ópera por acaso, mas está a definir um rumo nos seus termos. Os seus temas são escolha sua e ele procura as circunstâncias para fazer com que os trabalhos para o palco sejam viáveis. É o oposto da situação com o seu trabalho orquestral, que tem resultado de respostas frutíferas a vários pedidos.” (49)
A abertura de Glass à música para orquestra não aconteceu, de facto, como fruto de uma demanda pessoal, mas de desafios que lhe lançaram, muitos deles tendo na figura do maestro Dennis Russel Davies um importante parceiro de trabalho. Antes mesmo de ensaiar pela primeira vez o formato da sinfonia, experimentou em finais dos anos 80 o desafio de criar um concerto para violino, que compôs tendo em mente a figura do seu pai, criando algo de que ele tivesse gostado. Outros concertos, como o Tirol Concerto (2000) ou o Concerto para Violoncelo (2001) surgiram de encomendas concretas, a primeira do gabinete de turismo tirolês, a segunda para o Festival de Música de Pequim.
A sua primeira Sinfonia data de 1991 e representa uma reflexão nascida de momentos do álbum histórico Low, que David Bowie criou (contando com importante colaboração de Brian Eno) em 1977. Uma segunda sinfonia centrada nos universos de Bowie e Eno surgiria em 1994 na forma da Heroes Symphony.
O relacionamento próximo com figuras (e formas) da música pop é uma característica antiga e recorrente ao longo da obra de Philip Glass. Em 1983 colaborou com David Byrne (50) na composição de A Gentleman’s Honour, canção que integrou a música para The Photographer (1983). Três anos depois, a Byrne juntou as presenças de nomes como Suzanne Vega (51), Laurie Anderson (52), Paul Simon (53) ou Linda Rondstat (54) para criar Songs from Liquid Days, um ciclo de canções que representa aquilo que podemos ver como a maior aproximação da música de Glass face aos universos da música pop. Escreveu depois uma canção para a voz de Mick Jagger (55) e uma outra para Natalie Merchant (56). Fez arranjos para Marisa Monte (57) e Pierce Turner (58). Criou um ciclo para poemas de Leonard Cohen (59). Colaborou por duas vezes com Aphex Twin (60) e remisturou uma canção dos S-Express (61). Produziu e tocou com os Polyrock (62). Em 2003, o álbum Glasscuts apresentava remisturas de temas seus por músicos e DJs latino-americanos. Neste momento está a ser preparado o lançamento de um novo disco de remisturas, este com Beck entre os protagonistas. Ao mesmo tempo fez-se referência para novos e talentosos jovens compositores. Editou na Point Music um disco de Arthur Russell (63). E entre os que consigo trabalharam (e hoje o admiram) conta-se o promissor Nico Muhly (64).
A sua relação com os universos e figuras da música pop é de resto antiga. “No início dos anos 70 toquei muito com o ensemble na Alemanha e grupos como os Kraftwerk ou os Can tinham um bom relacionamento comigo, de franco diálogo.” (65). E é também sabido que entre uma das plateias que assistiram a Music with Changing Parts numa digressão europeia em inícios dos setentas, Bowie e Eno estava na plateia a assistir. Glass diz mesmo que o relacionamento com a pop é “gratificante” e que sempre o entusiasmou. De resto, concluía assim essa conversa: “Esta dicotomia que separa a música popular da clássica é recente! Os primeiros bailados de Stravinsky não seriam possíveis sem os estudos sobre a música popular russa de Rimsky Korsakov. Stravinsky trouxe para uma linguagem sinfónica as raízes da música popular do seu tempo. De certo modo continuo essa tradição. Há um puritanismo protecionista em relação à música clássica que me assusta. O diálogo entre as diversas músicas é entusiasmante e produtivo.” (66) Glass é, de resto, uma figura que não esgota a sua atenção pela música no ato de compor e interpretar o que escreve. Apesar de etapas ligadas a editoras como a CBS ou a Nonesuch, sempre teve editoras discográficas (primeiro a Catham Square, nos anos 70, mais tarde a Point Music, um selo do grupo Universal, nos anos 90 e, hoje em dia, a Orange Mountain Music).
Em inícios dos anos 80, num episódio do documentário televisivo Four American Composers, realizado por Peter Greenaway, Philip Glass descrevia assim os admiradores da sua música: “Há quem goste porque é barulhenta, e quem goste porque é rápida, há quem goste porque é muito clássica, há quem goste porque não é clássica, há quem goste porque soa a música indie e quem goste porque acha que não soa a música indie... Tem tudo a ver com a idade de cada um e com o que cada pessoa traz à música.” E deste aparente paradoxo nasceu uma voz que, transcendendo as fronteiras de género da música, podemos antes encarar como uma figura do nosso tempo.
49 - in Glass, A Portrait, de Robert Maycock, Sanctuary, 2002, pag 129
50 – David Byrne (n. 1952) Ex-vocalista dos Talking Heads, é um dos mais aclamados músicos do nosso tempo e também editor discográfico. Trabalhou com Philip Glass em The Photographer (onde assina a letra de A Gentleman's Honour) e Songs From Liquid Days (onde co-assina Liquid Days e Open The Kingdom).
51 – Suzanne Vega - Autora das letras de Lightning e Freezing, em Songs From Liquid Days
52 – Laurie Anderson - Autora da letra de Forgeting, em Songs From Liquid Days. É uma das vozes na gravação em disco da ópera Civil Wars (edidada em 1999).
53 – Paul Simon - Autor da letra de Changing Opinio, em Songs From Liquid Days.
54 – Linda Rondstat - Voz de Freezing e Forgeting, em Songs From Liquid Days. É a voz também na gravação em disco de 1000 Airplanes On The Roof.
55 – Mick Jagger - Vocalista dos Rolling Stones, canta a versão original de 'Streets of Berlin' na banda sonora do filme 'Bent', onde surge também como ator.
56 – Natalie Merchant - Canta 'Planctus', canção de Philip Glass estreada em 1997
57 – Marisa Monte - Glass assina o arranjo de 'Ao Meu Redor'
58 – Pierce Turner - Philip Glass fez arranjos de várias canções dos dois primeiros álbuns a solo do músico.
59 - Leonard Cohen - Glass compôs em 2007 um ciclo de canções a partir de poemas do 'Book of Longing' de Cohen
60 – Aphex Twibn- Colaborou com Glass em 'Icct Hedral', tema editado no EP 'Donkey Rhubarb'. Assinou depois uma remistura de 'Heroes' de Bowie, tomando como ponto de partida a abordagem à canção segundo Philip Glass na sua 'Heroes Symphony'.
61 – S-Express- Philip Glass assinou uma remistura de 'Hey Music Lover', editada em máxi-single em 1989.
62 – Polyrock - Banda new wave nova iorquina, contou com colaborações de Glass nos seus dois primeiros álbuns
63 – Arthur Russell - Glass editou 'Another Thought' na sua editora Point Music, em 1994
64 – Nico Muhly - Compositor norte-americano, trabalhou algum tempo nos Looking Glass Studios.
65 – in DN, 30 de Outubro de 1996
66 – ibidem
Subscrever:
Mensagens (Atom)