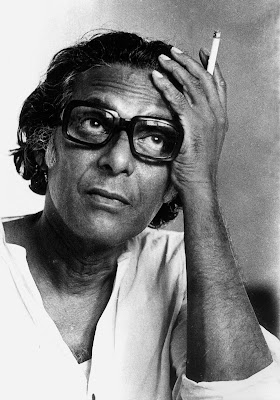A estreia de Roma, de Alfonso Cuarón, veio relançar muitas questões urgentes do mercado cinematográfico; em Portugal, talvez ganhássemos em tentar pensar tais questões para além da exaltação tecnológica — este texto foi publicado no Diário de Notícias (15 Dezembro), com o título 'Pensar o cinema para além da tecnocracia'.
Como as pessoas interessadas em cinema saberão, o filme
Roma, do mexicano
Alfonso Cuarón, teve a sua estreia nas salas portuguesas na quinta-feira, 13 [Dezembro], estando também disponível na Netflix desde o dia 14. É, a meu ver, um dos grandes acontecimentos do ano cinematográfico.
Seja como for, e para além de qualquer juízo de valor, creio que vale a pena sublinhar as condições em que Roma chegou ao mercado português. Até porque convém não esquecer que tais condições são apenas um sintoma parcelar de um drama que está a contaminar toda a paisagem global do cinema. A saber: que relações existem entre as plataformas de “streaming” e o circuito clássico das salas? Mais concretamente: que relações podem existir entre tais entidades?
No contexto português, a divulgação e apresentação de
Roma aos jornalistas foi pontuada por um misto de secretismo e (des)informação que, em boa verdade, importa não empolar. As hesitações, incertezas e contradições dos agentes do mercado não são nacionais, atravessam fronteiras e envolvem uma guerra comercial e simbólica cujas peripécias têm os EUA como palco central. Desde logo, porque a Netflix continua a não querer divulgar as receitas dos seus filmes nas salas, desse modo desafiando a tradição de transparência do mercado americano; depois, porque, pragmaticamente, a Netflix necessita de colocar
Roma nas salas americanas para poder concorrer às nomeações para os Oscars (o que, aliás, me parece um objectivo completamente legítimo).
Entre nós, não deixa de ser interessante referir que, independentemente do caso do filme de Cuarón, um dos discursos dominantes do mercado — visando os consumidores e a própria comunicação social — envolve a consagração da crescente sofisticação técnica de muitas salas escuras (Portugal foi, aliás, um dos países a consumar com mais rapidez a passagem para a projecção digital). Ora, ninguém põe em causa a importância das condições de projecção dos filmes — ao longo das décadas, alguma crítica de cinema tem tido (e continua a ter) um papel activo nesse processo. Resta saber se a ilusão tecnocrática de que estamos na “linha da frente” do digital resolve os problemas endémicos do mercado.
Isto porque importa não fechar os olhos a uma crise que nunca será superada pela mera ostentação tecnológica. Por exemplo: de acordo com os dados oficiais do Instituto do Cinema e Audiovisual (
ICA), entre Janeiro e Outubro deste ano foram ao cinema 11,8 milhões de espectadores, o que corresponde a uma quebra de 8,3% em relação ao mesmo período de 2017.
Não bastam estes números para compreendermos o que está a acontecer (os valores do primeiro semestre eram ainda mais negativos, tendo sido “corrigidos” pelo facto de a Festa do Cinema, em Outubro, com três dias de preços de bilhetes reduzidos, ter atraído uma importante vaga de espectadores). Ainda assim, chamam-nos a atenção para a insuficiência, para não dizer inadequação, de uma atitude que se compraz na celebração dos recursos técnicos, ignorando a complexidade dessa entidade a que damos o nome de “público” — complexidade, entenda-se, diversidade interna.
Estamos, enfim, perante um típico fenómeno dos nossos dias: o endeusamento da tecnologia. Nos EUA, há mesmo quem considere que as entidades com mais poder industrial e comercial estão a menosprezar (e, no limite, a destruir) a pluralidade artística e financeira do cinema. Em 2013, numa conferência no Festival de São Francisco,
Steven Soderbergh sustentou uma análise cujos ecos em Hollywood e nos circuitos independentes não se dissiparam. Assim, o cineasta de
Ocean’s 11 fez questão em descrever a sua perturbante relação pessoal com muitos executivos dos grandes estúdios: dizia ele que não podia deixar de sentir que eles não gostam de cinema e, no limite, nem sequer vêem os filmes.
Que fazer? Sugiro que comecemos por reconhecer que, salvo melhor opinião, Soderbergh não é um porta-voz da crítica de cinema, seja ela qual for. Além do mais, não me parece fácil rotulá-lo de artista indiferente à economia do cinema e ao valor comercial dos filmes.