
Hoje publicamos a segunda parte de uma entrevista com o realizador Julien Temple na qual se fala, essencialmente, do seu filme sobre o festival de Glastonbury recentemente editado em DVD entre nós.
Como assimilou estes 35 anos de experiência festivaleira? Foi regularmente a Glastonbury?
Fugi da escola e foi ao primeiro festival “a sério”, em 1971. Depois meti-me em sarilhos por ter ido, mas aquilo teve um impacte enorme em mim. Depois só regressei em finais dos anos 90 quando o Joe Strummer me disse que tinha de lá voltar... Durante muito tempo não estive em Inglaterra e, para um
punk, aquela coisa meio
hippie não dava! (risos). Agora vou frequentemente.
Usou na montagem final muitas imagens de anónimos, que responderam ao seu pedido...Sim, foi uma quantidade espantosa de imagens particulares. Somavam 1500 horas!
Como as visionou?
Usando o botão
fast forward... E quando via um momento que me parecia bom, parava para o ver convenientemente. Foi um processo difícil dada a enorme variedade de escolha que tinha comigo. Mas havia momentos perdidos em VHS esquecidos em garagens que pediam claramente para voltar à vida... Esses notavam-se claramente.
Muitas imagens não passaram da mesa de montagem...Houve muitas coisas que fiquei muito satisfeito por ter de cortar... Mas, claro, havia imagens que tive pena de excluir, mas o filme tem de ter uma certa duração e não o podia estender demasiado. Podia ter feito uma versão de 12 horas... Mas optei pela que fiz. Maior, seria aborrecido.
Como escolheu os momentos musicais?Nem sempre foi o meu gosto musical a definir essas escolhas. Por vezes havia actuações que tinham mesmo de ficar, porque representavam algo que queria contar, como por exemplo a comercialização do festival, ou um período na sua história que a música ou a banda traduzia... Tentei ter mais elementos característicos do evento que uma tradução do meu gosto pessoal.
E havia uma história para contar... Os Velvet Underground e David Bowie tinham de estar presentes.Sim, particularmente o Bowie, porque esteve na edição de 1971. Vi-o nessa actuação e, depois, vi-o de novo quando regressou recentemente.
Qual é o seu momento mais inesquecível vivido em Glastonbury?Foi precisamente a primeira actuação do Bowie, em 1971. Ninguém sabia ainda quem ele era e, como os artistas maiores se foram atrasando, a actuação dele foi adiada pela noite dentro. Tocou pelas cinco da manhã, quando a alvorada desponta, e eram poucos os que estavam então acordados para o ver. Só uns cinco mil... Estava tudo nas tendas, eu inclusivamente. E fui acordado por um estranho, que me abanou e disse que tinha de acordar para ver aquele tipo a tocar. O dia despontava, os pássaros começavam a cantar e lá estava ele, com o vestido que usava na altura do
Hunky Dory, com um penteado muito estranho. Sentia-se que era qualquer coisa muito especial...
E como foi, anos depois, trabalhar com ele como realizador dos telediscos Blue Jean ou Day In Day Out ou mesmo no filme Absolute Beginners?Foi muito bom. Sempre gostei muito dele, sobretudo os primeiros discos. Na verdade tenho outra história com ele. Em tempos fiz um filme chamado
The Great Rock’n’Roll Swindle. E para cada estreia, em Inglaterra tem de haver um visionamento público, ao qual qualquer um pode ir... Para eventuais queixas e alertas... Fui ver como estava a correr o visionamento do meu filme e a sala estava vazia. Só havia um vulto na escuridão, nas últimas filas. Quando as luzes se acenderam, no fim, era o David Bowie!
Ainda gosta de fazer telediscos?Sim, mas só quando gosto da música ou das bandas. Acabei de fazer um para os Babyshambles.
(conclui amanhã)
P.S. Entrevista originalmente publicada na revista '6ª', do Diário de Notícias
Estas são imagens da actuação de Bowie em Glastonburuy, em 1999, ao som de
Heroes integradas entre pedaços de memórias de edições anteriores, como se vê no filme de Julien Temple.
MAIL
 Segundo as notícias pré-Oscars que vão chegando dos EUA, Dreamgirls parece ser o candidato "oficial" do ano, isto é, aquele que poderá simbolizar a mais tradicional eficácia espectacular dos grandes estúdios de Hollywood. Dirigido por Bill Condon (Deuses e Monstros, Relatório Kinsey), com Jamie Foxx, Beyoncé Noles e Eddie Murphy nos principais papéis, o filme adapta o musical homónimo de Henry Krieger (compositor) e Tom Eyen (letrista), distinguido, em 1982, com seis 'Tony Awards', incluindo o de melhores letras. Vamos esperar para ver...
Segundo as notícias pré-Oscars que vão chegando dos EUA, Dreamgirls parece ser o candidato "oficial" do ano, isto é, aquele que poderá simbolizar a mais tradicional eficácia espectacular dos grandes estúdios de Hollywood. Dirigido por Bill Condon (Deuses e Monstros, Relatório Kinsey), com Jamie Foxx, Beyoncé Noles e Eddie Murphy nos principais papéis, o filme adapta o musical homónimo de Henry Krieger (compositor) e Tom Eyen (letrista), distinguido, em 1982, com seis 'Tony Awards', incluindo o de melhores letras. Vamos esperar para ver...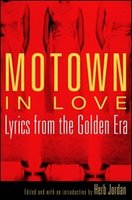 Entretanto, a fortíssima e bem elaborada campanha promocional de Dreamgirls — de facto, iniciada há cerca de um ano e com passagem pelo Festival de Cannes —, está a gerar uma onda de revivalismo em torno daquela que é, afinal, a sua referência mítica: a música da editora Motown, em particular nos tempos áureos das décadas de 1960 e 70. Assim, por exemplo, a NPR (rádio pública americana) dedicou um programa à edição de Motown in Love: Lyrics from the Golden Era, livro de Herb Jordan que recolhe muitos poemas dos grandes sucessos da Motown. Ao abordar essas memórias, a emissão da NPR deu a ouvir uma série de temas emblemáticos, alguns deles — incluindo The Tracks of My Tears, por Smokey Robinson e The Miracles — disponíveis para download.
Entretanto, a fortíssima e bem elaborada campanha promocional de Dreamgirls — de facto, iniciada há cerca de um ano e com passagem pelo Festival de Cannes —, está a gerar uma onda de revivalismo em torno daquela que é, afinal, a sua referência mítica: a música da editora Motown, em particular nos tempos áureos das décadas de 1960 e 70. Assim, por exemplo, a NPR (rádio pública americana) dedicou um programa à edição de Motown in Love: Lyrics from the Golden Era, livro de Herb Jordan que recolhe muitos poemas dos grandes sucessos da Motown. Ao abordar essas memórias, a emissão da NPR deu a ouvir uma série de temas emblemáticos, alguns deles — incluindo The Tracks of My Tears, por Smokey Robinson e The Miracles — disponíveis para download.






