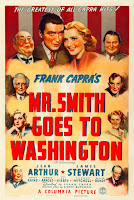|
| Fotograma de O Encoberto (1975) |
O escultor João Cutileiro faleceu no dia 5 de janeiro, contava 83 anos. Este texto evoca uma das suas obras através de memórias da curta-metragem que Fernando Lopes lhe dedicou — foi publicado no Diário de Notícias (6 janeiro).
Deformação profissional, reconheço, e por isso solicito a tolerância do leitor: ao saber do falecimento de João Cutileiro, não pude deixar de pensar, de imediato, na curta-metragem
O Encoberto (1975), pequena maravilha de 10 minutos sobre uma das suas criações mais emblemáticas, a estátua de El-Rei D. Sebastião, há quase meio século colocada no Largo Gil Eanes, em
Lagos.
 |
| João Cutileiro |
Por razões afectivas, é verdade: são muitas, e muito calorosas, as memórias que me ligam ao realizador do filme,
Fernando Lopes, e ao seu director de fotografia,
Manuel Costa e Silva. Mas também, se me permitem uma breve reflexão, porque
O Encoberto condensa uma interrogação muito básica, tão cinematográfica quanto televisiva. A saber: como inscrever a obra artística de alguém em imagens e sons?
Conhecemos os dois clichés dominantes. O primeiro é a entrevista clássica: mostra-se o autor, de frente, e lançam-se perguntas — e fazemos votos para que entrevistador e entrevistado estejam à altura do teatro que partilham connosco. O segundo, favorecido pelo poder dominante das linguagens televisivas, reproduz infinitamente as regras comuns da reportagem: alguém se coloca em frente à obra comentada, aponta-a com os seus dedos, e apresenta um discurso mais ou menos especializado.
Não estou a generalizar, entenda-se. Sempre existiram formas brilhantes de exposição decorrentes de tais soluções narrativas. Se, apesar de tudo, em muitos casos, podemos falar de clichés, isso decorre de um vício misturado de candura: não basta, de facto, debitar um texto académico, vagamente enciclopédico, para construir um olhar minimamente interessante sobre a obra comentada e o contexto em que foi colocada.
Ora, justamente, Fernando Lopes filmou a colocação da estátua de D. Sebastião num espaço da cidade de Lagos como quem dá a ver a própria raiz da intervenção artística: criar um objecto singular, libertá-lo da privacidade da criação e expô-lo aos olhos do mundo.
 |
| Fernando Lopes |
Seguimos, assim, o transporte das suas peças, observamos a força decisiva do guindaste, descobrimos o cuidado e o rigor das mãos humanas… Acontece de noite para, no final, já com luz de dia, vermos o rei a ser regado de modo a ser expurgado da poeira acumulada com as tarefas de, literalmente, lhe dar corpo.
Dir-se-ia uma metáfora do nosso magoado destino. Até porque, vale a pena recordar, a estátua, inaugurada em 1973, gerou algumas atribulações polémicas que, ironicamente ou não, espalharam o seu ruído antes e depois da data emblemática de 25 de abril de 1974 (o filme teve a sua estreia em Lisboa, no cinema Quarteto, a 9 de abril de 1977, como complemento de Os Demónios de Alcácer-Quibir, de José Fonseca e Costa).
Assim, o rei começa por surgir-nos como um amontoado de “pedras” (Cutileiro foi um sofisticado artesão dos mármores) que parecem definir um puzzle sem solução. Por outro lado, a pouco e pouco, com a paciência da montagem cinematográfica, de que Fernando Lopes foi um mestre absoluto, vemos nascer uma figura enigmática e frágil, dir-se-ia alheada das sombras da batalha de Alcácer-Quibir, esse ponto de fuga histórico que define a utopia redentora de D. Sebastião, e também a sua mitologia fúnebre.
Que fazer com as nossas memórias? Olhamos a perversa neutralidade do olhar do rei e, perguntamo-nos se, realmente, ele tem mesmo um rosto de menino. Ou se somos nós, obstinados idealistas, que nele projectamos as razões irracionais do nosso infantilismo histórico.