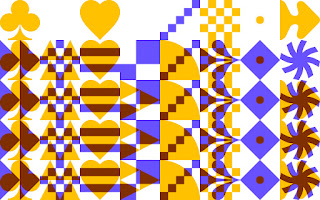|
| JOSEF KOUDELKA Natureza morta (jornal) França, 1976 |
quinta-feira, outubro 31, 2019
"Vitalina Varela" — politicamente
O cinema de Pedro Costa tem evoluído a partir de uma aguda consciência política. Entenda-se: no sentido em que a política se define a partir da tensão entre os lugares sociais e a singularidade dos corpos.
A partir de hoje nas salas, Vitalina Varela é, nessa medida, o mais político dos filmes. Não por qualquer banal inscrição "social" da sua história — a chegada de uma mulher de Cabo Verde a Portugal, três dias depois do funeral do marido —, antes porque somos levados a compreender que a odisseia da personagem central excede os limites, regras e valores da sociabilidade dominante e, em particular, da sua rotina mediática. Será preciso acrescentar que estamos perante um objecto radical que nos convoca para uma crítica metódica das imagens dominantes?
No limite, podemos recuperar uma expressão de Francis Ponge (1899-1988), relançada por Jean-Luc Godard em Deux ou Trois Choses que Je Sais d'Elle (1967): é a "raiva da expressão" que move esta contundência do olhar, a sua crueza poética e também a hipótese de redenção que o habita.
quarta-feira, outubro 30, 2019
Dan Deacon em "viagem psicadélica"
O teledisco vem acompanhado por um aviso que convém tomar a sério: "As pessoas com aversão a imagens de insectos [e não só...] em grande plano são aconselhadas a não ver este video."
Reforçado o aviso, importa voltar a celebrar a energia criativa de Dan Deacon, de quem já conhecíamos, por exemplo, esses magníficos álbuns que são America (2012) e Gliss Riffer (2015). O seu gosto electrónico-sinfónico-lúdico volta a manifestar-se em Sat By a Tree, tema de um novo registo, Mystic Familiar, a editar em Janeiro de 2020 — para utilizar uma expressão do próprio Deacon, digamos que esta é uma "viagem psicadélica" pela vida, a morte e a vida outra vez. Aleluia!
Reforçado o aviso, importa voltar a celebrar a energia criativa de Dan Deacon, de quem já conhecíamos, por exemplo, esses magníficos álbuns que são America (2012) e Gliss Riffer (2015). O seu gosto electrónico-sinfónico-lúdico volta a manifestar-se em Sat By a Tree, tema de um novo registo, Mystic Familiar, a editar em Janeiro de 2020 — para utilizar uma expressão do próprio Deacon, digamos que esta é uma "viagem psicadélica" pela vida, a morte e a vida outra vez. Aleluia!
IMPEACHMENT
—Trump, as palavras & etc.
Sinal dos tempos: nesta sociedade de imagens em que vivemos, a instrumentalização quotidiana das palavras não anulou os seus poderes primitivos. A saber: fazer política é também uma arte de administração de palavras, discursos e significações.
Sintomaticamente, o processo de destituição [impeachment] do Presidente Donald Trump está a ser dirimido em muitos e complexos cenários que, para além, ou melhor, através das suas componentes audiovisuais, envolvem os mais diversos gestos de consciência e análise das palavras.
Sintomaticamente, o processo de destituição [impeachment] do Presidente Donald Trump está a ser dirimido em muitos e complexos cenários que, para além, ou melhor, através das suas componentes audiovisuais, envolvem os mais diversos gestos de consciência e análise das palavras.
Este video da CNN pode servir de exemplo modelar: em diálogo com John Berman, Elie Honig, analista do sistema legal, faz o ponto de situação do que já foi dito, das mensagens claras às hipóteses mais ou menos obscuras. Correspondendo à dinâmica dos acontecimentos, a CNN criou mesmo uma newsletter a que deu o nome de Impeachment Watch.
terça-feira, outubro 29, 2019
Woody Allen em Nova Iorque
— sempre, para sempre
 |
| Timothée Chalamet + Elle Fanning |
Com ternura e desencanto, Woody Allen continua a filmar histórias de amor na sua cidade: Um Dia de Chuva em Nova Iorque é um dos maiores acontecimentos cinematográficos deste ano — este texto foi publicado no Diário de Notícias (24 Outubro).
Romantismo? A palavra está gasta, usada e abusada pelos “famosos”, pervertida na sua história e simbologia pela publicidade que encena pares amorosos a descobrir o sentido da vida através de uma nova aplicação de telemóvel… Enfim, não desesperemos. Pelo menos nas histórias que os filmes contam, ainda há quem acredite numa réstia de romantismo. É o caso de Woody Allen. O seu símbolo romântico, por excelência, não é uma pessoa, mas uma cidade: Nova Iorque.
Assim aconteceu em Annie Hall (1977), Manhattan (1979) ou Celebridades (1998), para apenas citarmos alguns dos títulos mais óbvios. Agora, com Um Dia de Chuva em Nova Iorque, 50ª longa-metragem da sua filmografia, Woody Allen, à beira de completar 84 anos (no dia 1 de Dezembro), reafirma uma obstinada crença romântica em Nova Iorque, mesmo se a sua visão das personagens se apresenta marcada por um paciente e pedagógico desencanto.
Observe-se o par central deste filme. Gatsby e Ashleigh são jovens namorados, estudam na mesma universidade e partem para uma breve deslocação a Nova Iorque; para o desenvolvimento de um trabalho de investigação, Ashleigh conseguiu agendar um encontro com um conhecido realizador de cinema, propondo-se Gatsby aproveitar a ocasião para lhe mostrar alguns dos locais mais emblemáticos (e também mais caros) de Nova Iorque…
Digamos, para simplificar, que Timothée Chalamet e Elle Fanning — intérpretes de Gatsby e Ashleigh — raras vezes tiveram a possibilidade de trabalhar personagens que, como estas, combinam a transparência emocional com um radical mistério existencial. A prodigiosa performance de Fanning, em particular, consegue expor uma candura emocional que, a pouco e pouco, vai sendo marcada pelas agruras que o dia a dia não programa, muito menos anuncia. Isto porque o génio narrativo de Woody Allen, a sua capacidade de transfigurar a ligeireza do mais banal quotidiano em espelho das convulsões da alma humana, se confunde com um cepticismo cada vez mais paradoxal.
Que filma, então, Woody Allen? Uma comédia romântica, sem dúvida, de uma maneira ou de outra filiada na nobre tradição de Hollywood que passa pelo trabalho de cineastas como Vincente Minnelli, George Cukor ou Blake Edwards. E não há dúvida que a espantosa direcção fotográfica de Vittorio Storaro nos remete para as memórias visuais e melodramáticas de muitos dos respectivos filmes.
 Mas se esse foi um género de alegre redenção (o que, convenhamos, pode ser discutido…), em Um Dia de Chuva em Nova Iorque, mesmo através do subtil humor de muitas das suas cenas, deparamos com a gélida revelação das muitas formas de falsidade que as relações humanas contêm ou alimentam — Gatsby e Ashleigh definem um par romântico para o século XXI, mas o tempo presente não confirma a mitologia que os inspira.
Mas se esse foi um género de alegre redenção (o que, convenhamos, pode ser discutido…), em Um Dia de Chuva em Nova Iorque, mesmo através do subtil humor de muitas das suas cenas, deparamos com a gélida revelação das muitas formas de falsidade que as relações humanas contêm ou alimentam — Gatsby e Ashleigh definem um par romântico para o século XXI, mas o tempo presente não confirma a mitologia que os inspira. Cenas como a conversa de Ashleigh com o cineasta que não está nos seus melhores dias, ou o antológico diálogo em que a mãe de Gatsby lhe revela os segredos do seu passado, são exemplos modelares de uma sublime arte narrativa. Woody Allen não desiste de retratar os humanos sem excluir qualquer uma das suas imperfeições, não desistindo também de fazer valer uma ternura que circula nos interstícios das relações humanas, sempre com destino incerto.
Sinal dos tempos: as ruas das nossas cidades enchem-se de cartazes a celebrar super-heróis esvaziados de qualquer humanidade, mas o grande cinema americano está aqui, através do labor de um cineasta que se mantém fiel às suas raízes artísticas. Dito de forma simples, simplesmente cinematográfica: Um Dia de Chuva em Nova Iorque é um dos grandes filmes de 2019.
segunda-feira, outubro 28, 2019
Robert Evans (1930 - 2019)
Terá sido o derradeiro produtor de Hollywood a merecer o epíteto de Maverick, estando ligado a títulos lendários como O Padrinho (1972) ou Chinatown (1974): de saúde frágil desde um ataque cardíaco sofrido em 1998, Robert Evans faleceu no dia 26 de Outubro, em Beverly Hills — contava 89 anos.
A biografia de Evans (de seu nome: Robert J. Shapera) está pontuada por muitas atribulações, de natureza legal ou conjugal (foi casado sete vezes), incluindo um episódio mais ou menos burlesco de declarada resistência inicial à escolha de Al Pacino para interpretar Michael Corleone em O Padrinho, de Francis Ford Coppola. Além do mais, como um dia confessou a Larry King [video], tornou-se produtor porque reconheceu não ter qualidades para cumprir a ambição de ser actor...
O certo é que o seu trabalho, sobretudo enquanto director de produção dos estúdios Paramount, lhe confere um lugar à parte na história pós-clássica de Hollywood, tendo dado luz verde, além do filme de Coppola, a projectos como A Semente do Diabo (1968), de Roman Polanski, Love Story (1970), de Arthur Hiller, Serpico (1973), de Sidney Lumet, ou The Conversation/O Vigilante (1974), de novo com Coppola.
Tornou-se produtor autónomo a partir de Chinatown, tendo ainda o seu nome ligado a títulos como O Homem da Maratona (1976), de John Schlesinger, O Cowboy da Noite (1980), de James Bridges (uma das melhores composições de John Travolta), ou The Two Jakes/O Caso da Melhor Infiel (1990), de e com Jack Nicholson (brilhante sequela de Chinatown).
A sua autobiografia, The Kid Stays in the Picture, lançada em 1994, é uma confissão amarga e doce que se tornou uma referência clássica na literatura sobre os bastidores de Hollywood — em 2002, serviu de base a um documentário homónimo, realizado por Nanette Burstein e Brett Morgen.
A biografia de Evans (de seu nome: Robert J. Shapera) está pontuada por muitas atribulações, de natureza legal ou conjugal (foi casado sete vezes), incluindo um episódio mais ou menos burlesco de declarada resistência inicial à escolha de Al Pacino para interpretar Michael Corleone em O Padrinho, de Francis Ford Coppola. Além do mais, como um dia confessou a Larry King [video], tornou-se produtor porque reconheceu não ter qualidades para cumprir a ambição de ser actor...
O certo é que o seu trabalho, sobretudo enquanto director de produção dos estúdios Paramount, lhe confere um lugar à parte na história pós-clássica de Hollywood, tendo dado luz verde, além do filme de Coppola, a projectos como A Semente do Diabo (1968), de Roman Polanski, Love Story (1970), de Arthur Hiller, Serpico (1973), de Sidney Lumet, ou The Conversation/O Vigilante (1974), de novo com Coppola.
Tornou-se produtor autónomo a partir de Chinatown, tendo ainda o seu nome ligado a títulos como O Homem da Maratona (1976), de John Schlesinger, O Cowboy da Noite (1980), de James Bridges (uma das melhores composições de John Travolta), ou The Two Jakes/O Caso da Melhor Infiel (1990), de e com Jack Nicholson (brilhante sequela de Chinatown).
A sua autobiografia, The Kid Stays in the Picture, lançada em 1994, é uma confissão amarga e doce que se tornou uma referência clássica na literatura sobre os bastidores de Hollywood — em 2002, serviu de base a um documentário homónimo, realizado por Nanette Burstein e Brett Morgen.
>>> Extracto de uma entrevista com Larry King (CNN, 1994) + genérico de Chinatown + trailer de The Kid Stays in the Picture.
>>> Obituário no Variety.
Rufus Wainwright — nova canção
Nova canção, novo disco: Trouble in Paradise é a magnífica nova proposta de Rufus Wainwright, centrada numa personagem que, como ele diz, reflecte sobre o "preço espiritual" do glamour. Serve também de cartão de visita para um álbum, produzido com Mitchell Froom, a ser lançado em 2020 (cerca de quatro anos depois de Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets).
Don’t matter if your drinks are neat or on ice
There’s always trouble in paradise
Don’t matter if you’re good or bad or mean or awfully nice.
domingo, outubro 27, 2019
10 telediscos (re)vistos na Gulbenkian
No âmbito de 'O Fascínio das Histórias', na Fundação Gulbenkian, os autores deste blog estiveram numa sessão moderada por Inês Lopes Gonçalves. Em foco: 'As histórias dos videoclips' ou, se preferirem, dos telediscos — eis os sons e imagens das 10 canções apresentadas.
* R.E.M. — Everybody Hurts (1992)
* Radiohead — Lift (2017)
* Björk — All Is Full of Love (1997)
* David Bowie — The Stars Are Out Tonight (2013)
* Madonna — Drowned World/Substitute for Love (1998)
* Kendrick Lamar — Element (2017)
* Pet Shop Boys — I Don't Know What You Want, But I Can't Give It Anymore (1999)
* The Rolling Stones — Like a Rolling Stone (1995)
* Bob Dylan — Like a Rolling Stone (1965/2013)
— video interactivo disponível em video.bobdylan.com
sábado, outubro 26, 2019
"O Fascínio das Histórias"
[hoje, na Gulbenkian]
O dia de hoje na Fundação Calouste Gulbenkian é dedicado a 'O Fascínio das Histórias', numa iniciativa comissariada por Nuno Artur Silva — imagens e sons, conversas e projecções para reflectir sobre o mundo infinito das narrativas, dos livros aos filmes, passando, por exemplo, pela música.
Os autores deste blog estarão presentes em alguns momentos do evento:
—14h30, MATRIZES NARRATIVAS DO CINEMA: Joaquim Sapinho + JL.
— 18h30, AS HISTÓRIAS DOS VIDEOCLIPS: NG + JL.
— 23h15, GAME OF TRONES (último episódio): Rogério Ribeiro + NG.
quinta-feira, outubro 24, 2019
The Twilight Sad — duas novas canções
Das gravações do seu quinto álbum de estúdio, It Won/t Be Like This All the Time, a banda escocesa The Twilight Sad guardou algumas gravações para posterior edição. Assim acontece agora, a pretexto da digressão europeia iniciada hoje em Paris — aqui estão Rats e Public Housing.
quarta-feira, outubro 23, 2019
Donald Trump em verso
Actor de filmes tão populares como Blow Out (Brian de Palma, 1981), Laços de Ternura (James L. Brooks, 1983) ou Interstellar (Christopher Nolan, 2014), vedeta da série televisiva 3º Calhau a Contar do Sol (1996-2001), John Lithgow nunca desistiu do gosto de desenhar e escrever poesia. De tal modo que surge agora como autor total, palavras e imagens, de Dumpty, livro com um subtítulo especialmente sugestivo: "A idade de Trump em verso". É também, acrescenta ele, uma forma de lidar com o vazio humorístico do próprio Donald Trump — explicações saborosas e festivas em The Late Show, com Stephen Colbert; em baixo, um magnífico sketch da mesma edição do programa, com Lithgow a interpretar o surreal advogado de Trump, Rudy Giuliani.
terça-feira, outubro 22, 2019
Caroline Shaw: compositora, violinista & etc.
 |
| [FOTO: Kait Moreno] |
37 anos, nascida em Greenville, Carolina do Norte: a biografia de Caroline Shaw impressiona pela brevidade, tanto quanto pela multiplicidade. Falamos de uma compositora, também violinista, também cantora, que em 2013 arrebatou o Prémio Pulitzer de Música pela sua composição a cappella intitulada Partita for 8 Voices — é a mais jovem compositora de sempre a ter recebido tal distinção.
No seu curriculum podemos encontrar peças para voz, instrumentos solistas, orquestras de câmara, orquestras sinfónicas, bandas sonoras para filmes e colaborações com Kanye West (nos álbuns Life of Pablo e Ye, respectivamente de 2016 e 2018).
Recentemente, o Attacca Quartet gravou um álbum, Orange, que pode servir de introdução ao fascinante universo sonoro de Shaw. Se Igor Stravinsky parece ser a mais imediata influência que podemos detectar, sem esquecer a omnipresença estética de Philip Glass [leia-se a pedagógica nota de James Manheim sobre o álbum no AllMusic], o certo é que há em todas estas composições o apelo ambíguo, profundamente original, de um fraseado capaz de exibir uma crueza experimental que não exclui um sentimento de celebração e envolvente contemplação.
Eis três vias de possível descoberta:
Eis três vias de possível descoberta:
— Plan & Elevation: IV. The Orangery, um tema do álbum encenado num sugestivo "teledisco".
— todas as 10 faixas de Orange.
— um video sobre a colaboração do Attacca Quartet com Caroline Shaw.
A morte da privacidade
Se continua a existir algo a que podemos chamar “cinema político”, o filme O Candidato Principal constitui um exemplo modelar das suas virtudes. Infelizmente, chegou aos ecrãs televisivos sem ter passado pelas salas — este texto foi publicado no Diário de Notícias (19 Outubro).
De John Ford a Clint Eastwood, passando por Elia Kazan, Otto Preminger ou Sam Peckinpah, o cinema de Hollywood sempre foi visceralmente político. Entenda-se: não porque reflicta “um” ponto de vista político, antes porque a sua riqueza narrativa espelha uma pluralidade que, de uma maneira ou de outra, nos remete para importantes clivagens políticas e sociais.
A evolução dos mercados cinematográficos, marcada pelo domínio dos chamados “blockbusters”, tem favorecido uma crescente indiferença a essa pluralidade. Não se trata, entenda-se, de demonizar os “blockbusters” (nem, como é óbvio, de os santificar). Trata-se tão só de reconhecer que, por vezes, as regras dominantes no mercado tendem a marginalizar alguns dos melhores e mais sofisticados produtos gerados pelo cinema dos EUA.
Um exemplo recente será o magnífico The Front Runner (2018): ausente das salas escuras, surgiu directamente nos circuitos do cabo com o título O Candidato Principal (TVCine). Ainda bem, claro... O que se discute não são critérios de programação televisiva, antes formas de esvaziamento do espaço social do cinema. Até porque convenhamos que é, no mínimo, desconcertante que não haja uma aposta convicta num filme que tem como intérprete principal um actor tão popular como Hugh Jackman.
Estamos perante um objecto que reflecte a persistente energia de um modelo de abordagem das convulsões da cena política cujas raízes se podem encontrar no “cinema político” da década de 70, em particular no trabalho de realizadores como Alan J. Pakula (1928-1998) ou Sydney Pollack (1934-2008). Esse cinema tem como um dos seus pilares fundamentais o estudo de uma interacção clássica, de alguma maneira gerada nas décadas finais do século XIX e consolidada ao longo do século XX. A saber: os muitos cruzamentos da actividade política com os meios de informação. O filme mais conhecido de Pakula, Os Homens do Presidente (1976), sobre a investigação jornalística do caso Watergate, e a subsequente resignação do Presidente Richard Nixon, pode servir de símbolo modelar.
O Candidato Principal é, justamente, um filme sobre um momento emblemático na história de tais cruzamentos, evocando as atribulações que marcaram o processo de nomeação do candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais dos EUA de 1988: líder de todas as sondagens (era o “front runner”, como diz o título original), Gary Hart, senador do estado do Colorado (com Jackman numa das mais subtis composições da sua carreira), acabou por desistir na sequência da revelação pública de uma relação extra-conjugal.
Jason Reitman, realizador de O Candidato Principal, tem-se revelado capaz de abordar situações delicadas, sabendo libertá-las de clichés dramáticos ou moralistas — recordemos o seu Juno (2007), centrado na personagem de uma adolescente que fica grávida. Neste caso, sem recalcar os drásticos efeitos emocionais do drama conjugal de Hart, Reitman sabe colocar em cena um outro drama cuja actualidade não será necessário sublinhar. Assim, depois do rigor deontológico do jornalismo de Os Homens do Presidente, estamos perante o “novo” mediatismo que passou a tratar a vida privada como terreno bélico de (des)informação, a ponto de aniquilar o fundamento democrático e o valor existencial da própria noção de privacidade.
Vem a propósito referir que Reitman é também autor de um dos mais notáveis filmes que já se fizeram sobre a degradação dos mais básicos princípios humanistas através de algumas formas de relação “social” promovidas pela Internet: chama-se Homens, Mulheres e Crianças (2014) e, tal como O Candidato Principal, chegou aos circuitos digitais sem ter sido mostrado nas salas do nosso país. É caso para perguntar se se trata de uma coincidência ou um padrão de tratamento do cinema mais ousado e inventivo.
"Apocalypse Now" (re)visto no CCB
A apresentação da montagem final Apocalypse Now numa sessão especial no CCB permitiu reencontrar, em cópia restaurada, um clássico do cinema que há muito pertence ao grande imaginário popular — este texto foi publicado no Diário de Notícias (21 Outubro).
Foi uma “matinée” à moda antiga. E com casa cheia. A apresentação da cópia restaurada de Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, numa sessão especial no CCB (domingo, 16h00) envolveu um duplo fascínio: desde logo, a recuperação de um hábito de ver cinema num horário que, muito antes das rotinas de consumo de multiplexes e centros comerciais, correspondia a uma prática cultural com regras e sabores específicos; depois, claro, o reencontro com um daqueles filmes que, mais do que uma referência obrigatória na galeria dos clássicos, há muito pertence ao grande imaginário popular.
E era, além do mais, uma genuína revelação, com um título esclarecedor: Apocalypse Now Final Cut. Quarenta anos depois da sua apresentação no Festival de Cannes — onde ganhou a Palma de Ouro de 1979, ex-aequo com O Tambor, de Volker Schlöndorff —, Coppola conseguiu, de facto, estabelecer esta montagem final da sua dantesca evocação da guerra do Vietname.
 Depois dos 153 minutos da primeira versão, depois da versão longa de 202 minutos (Apocalypse Now Redux, lançado em 2001), o realizador da trilogia de O Padrinho encontrou o equilíbrio justo para os materiais de um filme cuja gestação e rodagem constitui, por si só, uma epopeia — Apocalypse Now Final Cut aí está, restaurado em 4K: tem 183 minutos e é um esplendor de imagem e som.
Depois dos 153 minutos da primeira versão, depois da versão longa de 202 minutos (Apocalypse Now Redux, lançado em 2001), o realizador da trilogia de O Padrinho encontrou o equilíbrio justo para os materiais de um filme cuja gestação e rodagem constitui, por si só, uma epopeia — Apocalypse Now Final Cut aí está, restaurado em 4K: tem 183 minutos e é um esplendor de imagem e som.A odisseia de um soldado à procura de outro soldado — o capitão Willard e o coronel Kurtz, respectivamente Martin Sheen e Marlon Brando — surge, assim, numa cópia que, neste tempo de tantos e tão monótonos super-heróis, nos reconcilia com a ideia de um cinema grandioso cuja dimensão emocional começa, justamente, na plenitude do ecrã de uma sala escura.
Sobra uma questão insólita, certamente complexa, que convém, pelo menos, não recalcar. A saber: porque é que, para além da especialíssima sessão no CCB, o novo Apocalypse Now não surge também no circuito comercial?
A pergunta, entenda-se, não envolve aquela chantagem emocional com que, social e televisivamente, passámos a lidar com os nossos problemas, dos mais banais aos mais radicais. Ou seja: não se trata de saber “de quem é a culpa”. Trata-se, isso sim, de reconhecer que algo de desconcertante está a acontecer nas dinâmicas internas do mercado português quando um acontecimento tão extraordinário como é este Apocalypse Now Final Cut não encontra espaço nos circuitos comerciais de exibição (e, em particular, nas suas salas de maiores dimensões). Por mim, gostaria de acreditar que próximos acontecimentos poderão contrariar o cepticismo destas observações.
segunda-feira, outubro 21, 2019
JD McPherson — o Natal em Novembro
Rock? R&B? Rockabilly? Um pouco de tudo isso... E mais um tempero de Natal! Dito de outro modo: o americano JD McPherson tem um álbum de Natal para lançar bem antes das festas, a 2 de Novembro. Chama-se Socks e nele se exaltam, por exemplo, as virtudes das crianças bem comportadas — escutemos o pedagógico Bad Kid.
domingo, outubro 20, 2019
Frank Ocean — uma nova canção
Depois de Blonde e Endless, ambos lançamentos de 2016, Frank Ocean estará a trabalhar num novo álbum. Sinal a ter em conta: uma nova canção, intitulada DHL.
O homem e o urso
Podia ser título para uma fábula de moral redentora. Mas não: "O homem e o urso já não sabem viver em conjunto" é o título utilizado na edição de fim de semana do Libération para dar conta dos episódios de uma existência conflituosa no cenário dos Pirinéus — uma crónica ecológica que desemboca, afinal, numa dramática lição de vida.
"Apocalypse Now" no CCB [ hoje ]
Será hoje, domingo (16h00), no CCB: vamos poder ver (pelo menos uma vez...) a versão final do clássico de Francis Ford Coppola, cuja estreia ocorreu há 40 anos: Apocalypse Now Final Cut será projectado em cópia restaurada, digital 4K, com a montagem que o seu autor considera definitiva — 183 minutos, depois dos 153 iniciais e dos 202 da versão Redux, lançada em 2001.
Seria salutar, creio, que os principais decisores dos circuitos dominantes do mercado pensassem e repensassem as suas estratégias, em particular perguntando-se porque não vemos acontecimentos desta dimensão e importância a serem acolhidos também pelas salas comerciais. Aguardando novas ideias — e, sobretudo, ideias capazes de lidarem com a pluralidade dos públicos —, vale a pena recordar o trailer da obra-prima de Coppola.
sábado, outubro 19, 2019
Jolie + Fanning + Pfeiffer
Maléfica: Mestre do Mal relança o gosto da fábula que já distinguia o filme Maléfica, estreado em 2014. No centro dos acontecimentos está de novo a bruxa má, interpretada por uma Angelina Jolie em espectacular transfiguração visual — este texto foi publicado no Diário de Notícias (16 Outubro).
E aí está Maléfica: Mestre do Mal, mais uma sequela… De novo com Angelina Jolie. O hábito leva-nos a perguntar: mais uma sequela semelhante às de muitos super-heróis, vazia de ideias, com efeitos especiais repetidos e repetitivos, tudo embrulhado numa banda sonora apenas apostada em deixar-nos com dores de cabeça?…
Nada disso. Desta vez é mesmo a sério, de alguma maneira demonstrando que a produção com chancela Disney continua a possuir talento e energia para não se deixar enredar na monótona vulgaridade a que chegou a maior parte dos filmes dos estúdios Marvel (que integram o império Disney desde 2009). Maléfica: Mestre do Mal retoma o pressuposto central de Maléfica (2014), ou seja, reencenar o conto clássico de A Bela Adormecida, não apenas recriando o filme de animação da própria Disney lançado em 1959, mas também a narrativa de Charles Perrault publicada em 1697.
De que se trata, então? A prudência jornalística aconselha-nos a não revelar aquilo que foi concebido para ser descoberto pelo espectador… Seja como for, digamos que este segundo filme, dirigido pelo norueguês Joachim Rønning, retoma o legado simbólico do primeiro — afinal, a bruxa má transfigurava-se em figura maternal da pequena Aurora — para relançar uma história que, em última instância, lida com as ambiguidades da moral e a continuada demanda do Bem.
Importa dizer, por isso, que Maléfica: Mestre do Mal não receia recuperar e, mais do que isso, celebrar o misto de candura e perversidade que sempre foi matéria nuclear do território da fábula. A dinâmica dramática do novo filme impõe-se, assim, como um inesperado exercício sobre as configurações do feminino: Aurora é a “bela adormecida” que, cinco anos depois do filme anterior, está noiva do Príncipe Philip; Ingrith, mãe de Philip, a Rainha que encara o noivado de modo, no mínimo, hesitante; enfim, sempre dotada de poderes devastadores, Maléfica reaparece com a sua cabeça demoníaca e as asas ameaçadoras para reafirmar os mesmos poderes malignos… Ou talvez não.
Duas componentes paradoxais contribuem para tal dinâmica. Em primeiro lugar, uma sofisticada criação de cenários (mais ou menos) digitais, mostrando que é possível integrar os mais modernos recursos de produção sem que isso seja um fim em si mesmo — Maléfica: Mestre do Mal fundamenta-se numa invenção visual cuja exuberância possui qualquer coisa de saborosamente primitivo. Depois, Angelina Jolie, Elle Fanning e Michelle Pfeiffer (respectivamente como Maléfica, Aurora e Ingrith) definem um trio de inusitadas cumplicidades de composição capaz de nos fazer lembrar uma verdade estética que nenhuma forma de marketing pode rasurar: o elemento humano, neste caso as actrizes, continua a ser essencial, mesmo quando o cinema acontece através de mundos e efeitos de pura fantasia.
O exemplo de Angelina Jolie afigura-se modelar: a sua transfiguração através de uma complexa caracterização do rosto e do corpo não anula (parece mesmo intensificar) a subtileza do trabalho de representação. Ela é, afinal, uma actriz capaz de registos eminentemente trágicos (lembremos esse admirável filme de 2008 que é A Troca, realizado por Clint Eastwood), mas também deste festivo revivalismo do conto de fadas, monstros & etc.
Agora que as memórias de Judy Garland (por causa do filme Judy, com Renée Zellweger) têm levado a uma certa redescoberta do clássico O Feiticeiro de Oz, lançado em 1939, vale a pena sublinhar que Maléfica: Mestre do Mal surge como um objecto em ligação muito directa com o gosto de artifício desse cinema da idade de ouro de Hollywood. Não se trata de uma banal equivalência de valor — 1939 foi incomparavelmente mais rico e diversificado que 2019. Acontece que a transcendência gerada pelas imagens e sons de uma sala escura não se define pelo “vanguardismo” das suas bases tecnológicas. O que mais conta é o prazer de contar histórias, num permanente ziguezague entre o clássico e o moderno.
O céu e a terra [citação]
>>> Nesse tempo havia no mundo uma plenitude, uma harmonia que alegrava o coração: a missa, os bailes, as pessoas, as suas maneiras, mesmo quando se tratava de gente simples, burgueses descendentes de trabalhadores do campo ou das fábricas. A própria Rússia era ainda uma menina, tinha pretendentes, defensores, gente requintada que nada tinha a ver com os homens de hoje. Essa delicadeza, esse brilho, tudo isso morrera. Restava apenas uma cáfila de advogados e de empregados, uma corja que se entretinha a mastigar palavras e a gargarejar discursos. Vlassuchka e os amigos ainda pensam que hão-de voltar os belos tempos do champanhe e das saudações. Mas será essa a maneira de reconquistar um amor perdido? Para tanto seria necessário revolver o céu e a terra, remover montanhas.
in O Doutor Jivago
(Tradução de Augusto Abelaira)
Publicações Europa-América, 1987
sexta-feira, outubro 18, 2019
Prince: "demo" inédito
Foi a 19 de Outubro de 1979 que surgiu Prince, o segundo álbum de estúdio do príncipe de Minneapolis. Para assinalar a data, os gestores do património do cantor divulgaram um "demo" inédito de I Feel for You, tema desse álbum que, curiosamente, teria maior divulgação na voz de Chaka Khan, num álbum de 1984 cujo título coincide com o da canção [notícia: Rolling Stone].
A gravação, em cassete, terá sido feita em 1978-1979, tinha Prince 20 anos — é um exercício paradoxal de contenção exuberância que vale a pena escutar em paralelo com o registo que está no álbum de Prince e, por fim, a versão de Chaka Khan.
A gravação, em cassete, terá sido feita em 1978-1979, tinha Prince 20 anos — é um exercício paradoxal de contenção exuberância que vale a pena escutar em paralelo com o registo que está no álbum de Prince e, por fim, a versão de Chaka Khan.
Marilyn Manson — folk?
É verdade — e é magnífico! Cantor da tragédia e da comédia das atribulações do Bem e do Mal, Marilyn Manson encontrou um tema adequado ao seu imaginário, e também à sua iconografia, num clássico da folk, gravado, entre outros, por Elvis Presley e Johnny Cash: aí está God’s Gonna Cut You Down, em assombrado teledisco a preto e branco assinado por Tim Mattia.
quinta-feira, outubro 17, 2019
Sally Soames (1937 - 2019)
 |
| [FOTO: The Telegraph] |
Retratista de exemplar sobriedade, a foto-jornalista inglesa Sally Soames faleceu no dia 5 de Outubro, em Londres, sua cidade natal — contava 82 anos.
Começou a sua carreira em 1963, nas páginas de The Observer. Embora tenha assinado diversos trabalhos de foto-reportagem, nomeadamente no conflito árabe-israelita de 1973, foi como retratista de personalidades das artes, da política ou da moda que se distinguiu — preferindo sempre o preto e branco, os seus retratos parecem procurar uma neutralidade formal que, em qualquer caso, possui um paradoxal poder de revelação. Colaborou também em The Guardian, The New York Times e The Sunday Times, este o jornal com que manteve uma relação profissional mais prolongada (1968-2000).
 |
| MARTIN AMIS (1989) |
 |
| GIORGIO ARMANI (1985) |
 |
| BRUCE CHATWIN (1987) |
quarta-feira, outubro 16, 2019
Woody Allen em Nova Iorque
Woody Allen continua a ser um dos maiores argumentistas/realizadores da produção americana e, claro, um caso único no panorama global do cinema. Está a chegar o belíssimo Um Dia de Chuva em Nova Iorque, com Timothée Chalamet e Elle Fanning: exuberantes, comoventes e paradoxais como nunca os vimos — Fanning, em particular, tem uma daquelas performances que, daqui a muitas décadas, será citada como uma proeza absoluta na sua carreira. Isto sem esquecer a prodigiosa direcção fotográfica de Vittorio Storaro. Eis o trailer [estreia: 24 Outubro].
Maléfica em 40 segundos
Produzido pela Disney, Maléfica: Mestre do Mal (estreia dia 17) é um genuíno filme de estúdio... à moda antiga: os efeitos especiais são exuberantes, mas não representam um fim em si mesmo, estando ao serviço da criação de um genuíno mundo de fábula. Curiosidade especial: a caracterização de Angelina Jolie — eis um brevíssimo, mas eloquente, video.
terça-feira, outubro 15, 2019
Harold Bloom (1930 - 2019)
Escritor, professor e crítico literário, foi ele que nos disse que, em Harry Potter, "não há nada para ler" [video]. Figura central de muitos debates contemporâneos sobre o património literário e a identidade cultural, o americano Harold Bloom faleceu no dia 14 de Outubro, num hospital de New Haven, Connecticut — contava 89 anos.
Nasceu em Nova Iorque, de ascendência ucraniana e bielorussa (respectivamente pela parte do pai e da mãe), sendo educado em ambiente familiar segundo as regras do judaísmo ortodoxo — começou por falar o iídiche dos seus antepassados, só adquirindo prática da língua inglesa a partir dos seis anos. Talvez se possa dizer que essa sua origem plural, tecida de muitos cruzamentos de culturas e linguagens, o preparou para o estudo e celebração daquele que é o conceito mais célebre legado pela sua obra: o de Cânone Ocidental, enraizado em séculos de literatura que, segundo ele, estava a ser desvirtuada pelo ensino universitário.
O Cânone Ocidental, publicado em 1994, é, justamente, o seu livro mais célebre, mais discutido e mais polémico. A Angústia da Influência: Uma Teoria da Poesia (1973), Como Ler e Porquê (2000) e Génio (2003) são outros títulos marcantes de uma obra vastíssima, dominada pelos ensaios. Este ano publicara Possessed by Memory: The Inward Light of Criticism, revisitação dos seus autores canónicos, sempre com William Shakespeare como factor nuclear das suas reflexões e argumentações.
>>> Entrevista por Charlie Rose a propósito do lançamento de Como Ler e Porquê?
>>> Obituário na NPR.
>>> Nas páginas da Universidade de Yale.
Peter Handke: anjos, livros e filmes
 |
| AS ASAS DO DESEJO (1987) |
Quanto lemos a escrita de Peter Handke, não podemos deixar de sentir a sua ligação com o mundo das imagens. Afinal, o Nobel da Literatura distinguiu um autor que é também um cineasta — este texto foi publicado no Diário de Notícias (12 Outubro).
Dois homens conversam junto a uma vedação que divide o território em zonas incomunicáveis: compreendemos que tudo foi organizado para que o outro lado permaneça inacessível. A torre de vigilância confirma a planificação tensa do espaço e também o pressentimento de qualquer coisa de ameaçador.
Ainda assim, a frieza militarizada da paisagem não anula a sensação de um suave intimismo. Reconhecemos nas personagens a serenidade de uma pose que envolve também, por certo, as palavras que trocam. Uma explicação mágica ajuda-nos a decifrar a cena: Damiel, a figura da esquerda, e o seu companheiro, Cassiel, não dependem das limitações dos humanos; são anjos que circulam pela região de Berlim, corria o ano de 1987. Para eles, o Muro (que existiria ainda durante mais dois anos) não passa de uma monstruosidade demasiado humana, impotente para impedir a sua circulação pelo céu da cidade, escutando com divina paciência as vozes interiores dos seus habitantes.
Damiel e Cassiel são interpretados, respectivamente, por Bruno Ganz e Otto Sander. Se a memória cinéfila ainda não foi completamente destruída pelo ruído do marketing cinematográfico, promovendo no céu e nas ruas super-heróis de coisa nenhuma, o leitor reconhecerá a imagem de As Asas do Desejo, o filme de Wim Wenders (datado de 1987, justamente) que continua a lembrar-nos que, apesar de tudo, podemos convocar os anjos para lidar com os limites da vontade humana. As palavras que circulam pelo filme foram escritas por Peter Handke, agora distinguido com o Nobel da Literatura.
Reencontro alguns livros de Handke. Na badana da primeira edição portuguesa de A Hora da Sensação Verdadeira (Difel, 1988; tradução de Adélia Silva Mello) releio umas breves e luminosas palavras de Eduardo Prado Coelho, retiradas de um texto publicado no Expresso: “Há um enorme silêncio nas narrativas de Handke. E também um sentido de pose: as personagens desenham-se, minuciosamente recortadas, contra o silêncio, a noite, a cidade longínqua.”
Handke é um escritor, também argumentista, também cineasta — recorde-se o exemplo de A Mulher Canhota, com Edith Clever, realizado em 1978 a partir do seu romance, publicado dois anos antes (brevemente, a respectiva cópia restaurada será lançada no mercado português do DVD). Dito de outro modo: o labor da sua escrita é indissociável da consciência aguda do mundo como imagem, ou melhor, do ser humano como entidade que se define a partir dos lugares que habita e das palavras que aí se dizem ou ficam por dizer.
Em A Hora da Sensação Verdadeira, por exemplo: “Um avião passou bastante alto e, por um breve momento, a luz modificou-se, como se a sombra do aparelho tivesse passado pela rua durante um breve segundo. Quis gritar a árvores que estavam bem longe e que cintilavam ao sol que permanecessem assim! Porque é que ninguém lhe dirigia a palavra?”
Num livrinho de 2012, intitulado Ensaio sobre o Lugar Tranquilo (edição francesa de 2014: Essai sur le Lieu Tranquille, Gallimard), Handke volta a experimentar um registo que cruza a escrita confessional e a deambulação filosófica para tentar definir o mapa desse Lugar Tranquilo, assim mesmo, com maiúsculas: “O seu Lugar Tranquilo não tinha telhado, abria-se para o céu.”
Abrir-se para o céu — eis a utopia ou, pelo menos, a maravilhosa insensatez do desejo de existir. Por isso mesmo, em As Asas do Desejo, a mobilização dos anjos não envolve qualquer derivação fantástica do cinema. Nem heróis nem super-heróis. Lembremos, aliás, o esplendor das imagens a preto e branco do filme de Wenders. São imagens assinadas pelo grande Henri Alekan que, ao fotografar A Bela e o Monstro (1946), de Jean Cocteau, nos ensinara que as fantasias que partilhamos são apenas uma variante da nossa vida concreta. Os anjos sabem disso, e não desistem de lidar com a nossa indiferença.
segunda-feira, outubro 14, 2019
"Apocalypse Now" na FNAC
Agradecemos a presença dos que no domingo, dia 13, nos acompanharam na FNAC do Chiado para uma viagem motivada pelos 40 anos de Apocalypse Now e o respectivo restauro em 4K (domingo, dia 20, no CCB). Entre memórias cinematográficas e musicais, eis três dos videos que apresentámos.
SOUND + VISION Magazine
(próxima edição)
(próxima edição)
MILES DAVIS, JAZZ, POP & ETC.
FNAC / Chiado — 16 Novembro (18h30)
>>> Apocalypse Now (Satisfaction, Rolling Stones) + War, Bruce Springsteen + Orange Crush, R.E.M.
domingo, outubro 13, 2019
Sharon Van Etten — concerto na NPR
O quinto registo de estúdio de Sharon Van Etten, Remind Me Tomorrow, é, por certo, um dos grandes acontecimentos deste ano musical. A cantora de Brooklyn esteve nos estúdios da NPR para um 'Tiny desk concert', interpretando três temas do álbum: Comeback Kid, You Shadow e Seventeen.
António Lobo Antunes
— por Bernard-Henri Lévy
 |
| Lisboa, 28 Setembro 2019 |
A homenagem a António Lobo Antunes, realizada na Fundação Gulbenkian no dia 28 de Setembro, começou com uma notável exposição de Bernard-Henri Lévy. Percorrendo os labirintos de significação gerados pela escrita de Lobo Antunes, o autor de La Pureté Dangereuse falou da voz primordial gerada pelo fluxo das palavras, do labor específico do leitor e, no limite, da omnipresença do Mal — eis o respectivo registo, disponível também nas páginas de La Règle du Jeu.
Labels:
Bernard-Henri Lévy,
BHL,
Cultura,
História,
Livros
sábado, outubro 12, 2019
"Apocalypse Now", 40 anos
— SOUND + VISION Magazine [ hoje ]
Apocalypse Now faz 40 anos: regressamos ao clássico de Francis Ford Coppola, um dos títulos mais lendários do "filme-de-guerra" e, em boa verdade, de toda a história do cinema — sem esquecer as canções e os outros filmes.
* FNAC / Chiado — hoje, domingo, 13 Outubro, 18h30.
Robert Forster (1941 - 2019)
Secundário de discreto e fascinante talento, obteve uma nomeação para o Oscar com Jackie Brown: o americano Robert Forster faleceu no dia 11 de Outubro, em Los Angeles, vítima de cancro no cérebro — contava 78 anos.
As gerações mais novas identificam-no, antes do mais, através da personagem do xerife Frank Truman, na série Twin Peaks (2017), de David Lynch, e também da sua participação em Jackie Brown (1997), sob a direcção de Quentin Tarantino (nesse ano, o vencedor do Oscar de actor secundário foi Robin Williams, em O Bom Rebelde). Em qualquer caso, mesmo não esquecendo que grande parte do seu trabalho passou pela televisão, Forster deixou a sua marca em alguns títulos marcantes, a começar por aquele em que se estreou: Reflexos num Olho Dourado (1967), bizarro e fascinante drama vivido em cenário militar, dirigido por John Huston, com Marlon Brando e Elizabeth Taylor nos papéis centrais. Um dos seus poucos papéis como personagem central é também dessa época, em Medium Cool/América, América, para Onde Vais? (1969), de Haskell Wexler, retrato actualíssimo das contradições da prática jornalística e televisiva, centrado na Convenção do Partido Democrata em Chicago, no Verão de 1968.
Como ele próprio reconheceu, o convite de Tarantino para integrar o elenco de Jackie Brown foi decisivo no relançamento da sua carreira. Vimo-lo, por exemplo, em Psico (1998), de Gus Van Sant, Mulholland Drive (2001), também de Lynch, Confiança (2003), de James Foley, ou Os Descendentes (2011), de Alexander Payne. Forster morreu no dia em que se estreou o seu derradeiro filme: El Camino: A Breaking Bad Movie, de Vince Gilligan.
>>> Cena de abertura de Medium Cool + cena de Jackie Brown.
>>> Obituário em The Hollywood Reporter.
sexta-feira, outubro 11, 2019
Half Alive, de mão em mão
Os Half Alive — que gostam de se identificar como half.alive — nasceram da amizade e do gosto de experimentação de três amigos de Long Beach, California: Josh Taylor (voz), Brett Kramer (bateria) e J. Tyler Johnson (baixo). O seu álbum de estreia, lançado este Verão, chama-se Now, Not Yet. Cultivando uma pop suave e elegante, contaminada por influências díspares, são também três rapazes empenhados na visualização das suas canções. Exemplo original e sugestivo: a coreografia de muitas mãos que encontramos no teledisco de Breakfast, realizado por Elliott Sellers.
Subscrever:
Mensagens (Atom)