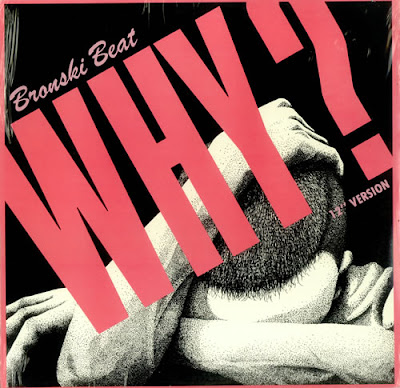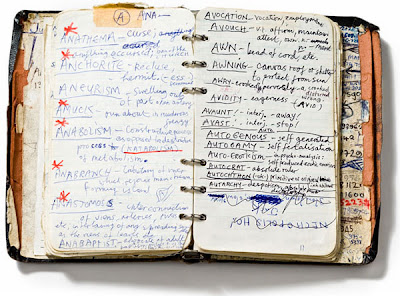Scissor Sisters
“Magic Hour”
Polydor / Universal
2 / 5
Já lá vão oito anos. Foi em 2004 que, ao som de
Laura, Take Your Mama ou de uma versão (magnífica, sublinhe-se) de
Comfortably Numb (no original dos Pink Floyd) que o mundo descobria os
Scissor Sisters. Pop com vitaminas de festa, um cruzamento da cultura
camp nova iorquina do início dos zeros com ecos de memórias dos setentas, os jogos de vozes entre Jake Shears e Anna Matronic e uma postura de
glamour e desafio colocaram o álbum de estreia,
Scissor Sisters no mapa. E, convenhamos, foi mesmo um dos grandes discos pop dos anos zero. O álbum teve sucessor em comprimento de onda semelhante, dois anos depois, em
Ta-Dah e, após uma pausa mais extensa, um ensaio de evolução sem roturas maiores em
Night Work (2010) onde as electrónicas e uma presença de atmosferas berlinenses (juntando-se às da omnipresente Nova Iorque) sugeriam novos caminhos, com momento maior no soberbo
Invisible Light que visitava o marcante livro de estilo de uns Frankie Goes To Hollywood. Dois anos depois, mas sem a
panache de outros tempos, um quarto álbum entra em cena e revela o primeiro passo em falso de uma banda que, dadas as marcas tão vincadas de personalidade, desde cedo se sentia que poderia ter pela sua frente um prazo de validade algo curto.
Night Work tentara contrariar essa ideia abrindo caminhos. Mas em vez de focar agora uma opção, o grupo optou por fazer de
Magic Hour um
cocktail ainda mais variado de sabores, acabando nas mãos com um disco desorientado.
Baby Come Home, a abrir o alinhamento, é herança direta dos caminhos seguidos nos dois primeiros álbuns. E
Somewhere, quase a encerrar o lote de canções, uma projeção natural dos rumos sugeridos pelo álbum de 2010 (a presença de Stuart Price na produção reforçando naturalmente essa ligação). Mas pelo meio encontramos uma banda que, sem abandonar os seus princípios e marcas de identidade (revelando as letras interessantes sinais de evolução em certos de pontos de vista), não parece saber bem para onde quer ir, se atrás de inconsequentes baladas elegantes - em colaborações com Pharrell Williams ou Diplo - a incursões por caminhos em voga em várias latitudes da pop e da club scene do presente, sem contudo encontrar um patamar de diálogo sólido com a sua alma primordial. O desinspirado
Shady Love (ao lado de Azealia Banks) ou o incaracterístico e mais recente single,
Only The Horses (co-produzido por Calvin Harris) são exemplos de experiências falhadas.
San Luis Obispo, ensopa a latinidade de pacote outro possível candidato a single desejoso de invadir o FM
mainstream. Já
Let’s Have a Kiki, revisita heranças do seu próprio passado mais próximo do
eletroclash, em clima mais anguloso e desafiante, somando juntamente com o minimalismo à la M.I.A de
Keep Your Shoes e os sabores
house de
Self Control os instantes verdadeiramente entusiasmantes de um disco que não repete a auto-confiança nem o viço festivo de outros álbuns. Que ao quinto disco apostem mais claramente numa agenda de ideias. Se as escutarem nas entrelinhas de
Night Work ou nas breves frestas de verdadeira iluminação que aqui escutamos, talvez encontrem o patamar que lhes permitirá ser mais que a banda que fez aquele álbum que todos lembramos de 2004. Caso contrário, daqui a 20 anos serão apenas lembrados na nostalgia dos zeros com duas ou três canções desse disco de estreia. E dada a força da sua atitude pop e dos debates que levantaram nas letras das canções e em entrevistas, é pena se for esse o seu destino.