 |
| Daniel Giménez Cacho no seu "exílio", algures entre México e EUA |
Autor central na história recente de Hollywood, o mexicano Alejandro González Iñárritu regressa ao seu país para um filme grandioso sobre as fronteiras difusas de geografia e cultura. O título é todo um programa narrativo: Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades — este texto foi publicado no Diário de Notícias (17 novembro).
Os conflitos entre salas de cinema e plataformas de “streaming” já não são o que eram. Os agentes do mercado vão percebendo que não faz sentido — não apenas em termos artísticos, mas também por razões industriais e comerciais — conceber as várias hipóteses de difusão como opções extremadas em conflito de mútua exclusão. Afinal, ao longo dos últimos anos algum jornalismo cinematográfico tem vindo a chamar a atenção para a necessidade de criar vias de diálogo e colaboração entre os vários contextos em que um filme passou a existir. Aí está um bom exemplo:
Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades, de Alejandro González Iñárritu, um título da
Netflix, surge nas salas a 17 de novembro e, cerca de um mês mais tarde (16 de dezembro), estará disponível naquela plataforma.
O acontecimento é tanto mais importante quanto, além de não ser um caso isolado — o novo Pinóquio, de Guillermo del Toro, terá um tratamento semelhante —, permite valorizar ao máximo as imagens e os sons de um projecto que, com invulgar energia, começa por apelar às dimensões de um grande ecrã. Sem esquecer que Iñárritu, juntamente com del Toro e Alfonso Cuarón, forma um grupo de “três mosqueteiros” mexicanos que triunfaram em Hollywood.
Para a Netflix, Bardo será mesmo uma aposta renovada na temporada de prémios com assinatura de um desses autores mexicanos. Aconteceu em 2019, com Roma, de Cuarón, que falhou o objectivo máximo: arrebatar o Oscar de melhor filme do ano, ainda que tenha ganho na categoria de melhor filme internacional. Este ano, Bardo surge, para já, como representante do México na corrida ao Oscar desta última categoria.
O título Bardo tem sido citado por alguns críticos dos EUA através de um duplo sentido: por um lado, como designação metafórica de um poeta lírico, neste caso associada, com calculada ironia, à personagem de Silverio Gama (notável interpretação de Daniel Giménez Cacho), jornalista mexicano a viver há 20 anos nos EUA, à beira de receber um prémio que irá confirmar o seu prestígio “made in USA”; por outro lado, a saga de Silverio — cruzando as convulsões da sua família com algumas memórias históricas e, sobretudo, bélicas das relações México/EUA — poderá também evocar a noção budista de um limbo, entre vida e morte, lugar imaterial de enigmática transfiguração do ser humano.
São legítimas interpretações da palavra “bardo” que, acredito, o próprio Iñárritu não renegará. Mas vale a pena acrescentar uma terceira hipótese que, salvo erro da minha parte, é a única directamente presente no filme, numa conversa de Camila (Ximena Lamadrid) com Silverio, seu pai. Ou seja: bardo como terreno ou propriedade rural que, em última instância, designa um espaço habitado por um colectivo familiar.
Porque, enfim, se há questão fulcral, de uma só vez pública e privada, política e simbólica que atravessa todo o filme, será a da pertença. Pertença a quê? A um lugar, justamente. Que lugar? Uma entidade com tanto de geográfico como de cultural: pode ser um país, uma família ou “apenas” uma comunidade de valores e afectos.
Bardo existe, assim, como uma colagem fascinante de lugares, vividos ou imaginados, que Silverio percorre como uma prova de fogo existencial, individual e dolectiva. Daí a suprema ambivalência em que tudo acontece, aproximando a pulsão realista do mais puro e envolvente onirismo. No limite (e sem querer revelar demasiado), diria que nos instantes finais do filme sentimos que estamos de novo na cena de abertura, como se as mais de duas horas de projecção equivalessem a uma mágica fração de segundo.
As ressonâncias da filmografia de Iñárritu são muitas e significativas. Afinal de contas, também ele tem sido um criador “exilado” nos EUA, autor, por exemplo, do monumental The Revenant: O Renascido (2015), com Leonardo DiCaprio, regressando agora ao México, 22 anos depois de Amor Cão. As “verdades” que o título refere, indissociáveis do reconhecimento das dificuldades de inserção de Silverio (e, podemos supor, do próprio Iñárritu) no tecido social e profissional dos EUA, desembocam no tom de “falsa crónica” que o filme assume. Bardo, Falsa Crónica de umas Quantas Verdades não cede, assim, a qualquer confessionalismo obsceno, hoje dominante em diversos sectores da “comunicação” televisiva — a cena da “entrevista” em televisão é mesmo um precioso ensaio sobre a degradação humana que, por vezes, invade os nossos ecrãs caseiros.
Curiosamente, na sua dantesca grandiosidade, a sequência da fronteira em que vemos milhares de mexicanos a tentar entrar nos EUA remete para outro momento exemplar do trabalho de Iñárritu (menos conhecido, por óbvias limitações de difusão): a curta-metragem de Realidade Virtual,
Carne Y Arena, revelada no Festival de Cannes de 2017. Num caso como noutro, deparamos com a vontade utópica de devolver ao cinema uma vibração épica capaz de o libertar do maniqueísmo de heróis sem alma. Iñárritu é um dos cineastas contemporâneos que não desiste da dimensão sagrada do cinema — que isso nos chegue através de uma produção com chancela de uma plataforma de “streaming”, eis a contradição, perturbante sem dúvida, que importa saudar.










,%201985.png)










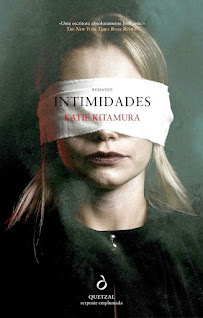











.jpeg)










